SHAIKH, Anwar. Capitalism: Competition, Conflict, Crises. Oxford University Press, 2016.
Sumário
Parte I: Fundamentos da Análise
Capítulo 01 - Introdução 3
I. Abordagem do Livro 3
Ordem e desordem 3
Resposta neoclássica à dualidade real 4
Resposta keynesiana e pós-keynesiana à dualidade real 4
Propósito diferente deste livro 4
II. Resumo do Livro 7
Parte I: Fundamentos da análise (capítulos 1–6) 8
Parte II: Competição real (capítulos 7–11) 14
Parte III: Macrodinâmica turbulenta (capítulos 12–17) 31
Capítulo 02 - Tendências turbulentas e estruturas ocultas 56
I. Crescimento turbulento 56
II. Produtividade, salários reais e custos reais unitários de mão de obra 59
III. Taxa de desemprego 61
IV. Preços, inflação e ciclos do ouro 62
V. Taxa geral de lucro 65
VI. Arbitragem turbulenta 66
VII. Preços relativos 69
VIII. Convergência e divergência em escala mundial 70
IX. Resumo e Conclusões 72
Capítulo 03 - Fundamentos Micro e Padrões Macro 75
I. Introdução 75
II. Processos Micro e Padrões Macro 78
Representação do comportamento humano individual 78
Representação do comportamento agregado 84
Relações agregadas, fundamentos micro e a questão da rigorosidade 87
III. Estruturas de Moldagem, Gradientes Econômicos e Propriedades Emergentes Agregadas 89
Estrutura analítica para microeconomia robusta 90
Curvas de demanda em declive descendente 91
Elasticidades de renda e Lei de Engel 92
Funções de Consumo e Poupança Agregadas 95
Simulações: Insensibilidade das relações agregadas aos fundamentos micro 96
IV. Metodologia para Análise Econômica 101
V. Gravitação Turbulenta 104
Equilibração como processo turbulento versus equilíbrio como estado alcançado 104
Estática, dinâmica e ciclos de crescimento 105
Diferenças nas dimensões temporais de variáveis econômicas chave 105
VI. Resumo e Implicações Centrais 109
Capítulo 04 - Produção e Custos 120
I. Introdução 120
II. Produção nas Teorias Econômicas 122
Investimento circulante versus fixo 122
Contas nacionais clássicas e convencionais 123
Produção e trabalho não produtivo 128
III. Relações de Produção Versus Funções de Produção 130
Dimensões estruturais e temporais da produção 130
Determinantes sociais e históricos da duração e intensidade da jornada de trabalho 131
Evidência empírica sobre as relações entre condições de trabalho e produtividade do trabalho 134
IV. Produção no Nível de uma Empresa 135
Condições de trabalho e "reversão" ao longo da fronteira das possibilidades de produção microeconômica 135
Saída e coeficiente de produção sob condições de trabalho socialmente determinadas 141
V. Custos, Preços e Lucros 151
Formas presumidas de curvas de custo nas teorias neoclássicas, neo-Ricardianas e pós-keynesianas 151
Curvas de custo sob condições gerais do processo de trabalho 153
Implicações de curvas de custo gerais para vários argumentos econômicos 157
VI. Evidência Empírica sobre Curvas de Custos 160
Capítulo 05 - Troca, Dinheiro e Preço 165
I. Introdução 165
II. Origens do dinheiro moderno 169
Commodities monetárias 170
Moedas 173
Tokens monetários 174
Tokens não conversíveis, moeda forçada e moeda fiduciária 175
Bancos, crédito e dinheiro 180
Funções essenciais do dinheiro 182
i. Dinheiro como meio de precificação 183
ii. Dinheiro como meio de circulação 183
iii. Dinheiro como meio de segurança 184
III. Teorias Clássicas do Dinheiro e do Nível Nacional de Preços 188
Teorias clássicas do dinheiro 189
A estrutura básica da teoria do dinheiro de Marx 191
Os elementos-chave na teoria do dinheiro de Marx 194
Padrões empíricos em relação à teoria do dinheiro de Marx 198
IV. Rumo a uma Teoria Clássica do Nível de Preços sob o Dinheiro Moderno 200
A determinação de preços relativos com tokens conversíveis 200
A determinação de preços relativos com tokens não conversíveis 203
Outras questões 203
Capítulo 06 - Capital e Lucro 206
I. Introdução 206
II. As Duas Fontes de Lucros Agregados 208
III. Produção, Tempo de Trabalho e Lucro 212
Nenhum lucro agregado sem trabalho excedente 213
Lucros positivos requerem trabalho excedente 216
Regra geral para medir lucros econômicos reais 217
O enigma dos efeitos de preços relativos sobre o lucro agregado 218
IV. Lucros Agregados e Transferências de Valor: uma Solução Geral para o "Problema da Transformação" Universal 221
Transferências de valor por meio de mudanças nos preços relativos 224
A influência das proporções de produção nas transferências de valor e lucro agregado 226
V. Lucros financeiros e lucro sobre transferência 229
VI. Teorias de Lucro Agregado em Diversas Escolas 231
VII. Revisão Crítica da Literatura sobre os Efeitos de Preços Relativos sobre o Lucro Agregado 238
VIII. Medição de Lucro e Capital 243
Parte II: Competição Real
Capítulo 07 - A Teoria da Competição Real 259
I. Introdução 259
II. Competição Real dentro de uma Indústria 261
III. Competição Real entre Indústrias 264
IV. Competição Real e a Noção de Capitais Reguladores 265
V. Fenômenos Gerais da Competição Real 267
VI. Evidência sobre Competição Real 272
1. O comportamento da empresa 272
i. Grupo de Pesquisa de Economistas de Oxford (OERG) e Hall e Hitch 272
ii. Andrews e Brunner 274
iii. Revisão de Harrod da concorrência imperfeita 278
iv. Redução de preços e entrada na literatura empresarial 282
2. Evidência empírica sobre custos operacionais das fábricas: Salter 284
3. Escolha de técnica sob condições de preço fixo versus redução de preços 288
4. Evidência empírica sobre custos, intensidade de capital e lucros ao nível da empresa 290
5. Evidência empírica sobre igualização das taxas reguladoras de lucro 295
i. Definição de medidas de taxas médias e reguladoras de lucro 298
ii. Evidência empírica para países da OCDE 301
iii. Testes econométricos de igualização de taxas de lucro 305
VII. Debate sobre Competição, Escolha de Técnica e Taxa de Lucro 313
A faixa viável de preços competitivos 316
Implicações em toda a economia da escolha de técnica 317
Implicações da escolha de técnica para a trajetória da taxa de lucro geral 322
Capítulo 08 - Debates sobre Concorrência Perfeita e Imperfeita 327
I. Visões Teóricas 327
1. Visões clássicas 330
i. Smith 330
ii. Ricardo 331
2. Marx 333
i. Capital regulador 336
ii. Escolha de técnica 337
iii. Viés da mudança técnica 339
3. A teoria da concorrência perfeita 340
i. Surgimento das visões de concorrência perfeita e capitalismo perfeito 340
ii. Walras e equilíbrio geral 341
iii. Walras e Marshall 343
iv. Walras e a economia neoclássica moderna 343
v. Papel crucial do comportamento de preço fixo 343
vi. Críticas à concorrência perfeita 344
vii. Externalidades e o Teorema de Coase 345
4. Concorrência perfeita requer expectativas irracionais 346
i. Conhecimento perfeito contradiz concorrência perfeita 346
ii. Falha da Teoria Quantitativa da Concorrência 347
iii. Necessidade de empresas competitivas considerarem a demanda 347
iv. Keynes e Kalecki sobre implicações macroeconômicas 348
v. Patinkin sobre implicações macroeconômicas 349
5. Visões de Schumpeter 349
6. Visões austríacas 351
i. Hayek 351
ii. Von Mises 351
iii. Kirzner 352
iv. Mueller 352
v. Avaliação geral da economia austríaca 352
7. Teoria Marxista do Capitalismo Monopolista 353
8. Surgimento das teorias de concorrência imperfeita 357
i. De concorrência perfeita para concorrência imperfeita 357
ii. Crítica inicial de Sraffa à teoria da empresa 357
iii. Chamberlin e Robinson 358
iv. Contra-ataque neoclássico 358
9. Visões de Kalecki e pós-keynesianas 359
i. Teoria de preços de Kalecki 359
ii. Teoria de preços pós-keynesiana 361
10. Visões clássicas modernas 364
i. Posições básicas sobre a relação entre preços de mercado e preços de produção 364
ii. Aceitação de preços versus fixação de preços 366
iii. Tamanho da empresa e grau de concorrência 367
II. Evidência Empírica sobre Concorrência e Monopólio 367
1. Introdução 367
2. Indicadores tradicionais de poder oligopolístico e monopolista 368
3. Rigidez de preços e poder monopolista 370
4. Rentabilidade e poder monopolista 372
5. Evidência empírica sobre taxas de lucro e poder monopolista 373
6. Evidência empírica sobre margens de lucro e poder monopolista 377
7. Colusão e Rentabilidade 379
Capítulo 09 - Concorrência e Preços Relativos Interindustriais 380
I. Introdução 380
II. Produção Simples de Mercadorias 381
III. A Equação Fundamental de Preços: Derivação de Adam Smith 385
1. Equação Fundamental se aplica a todos os preços 385
2. A Equação Fundamental para Preços Relativos 386
3. Efeitos amortecedores da integração vertical 388
IV. Medindo a Distância Entre Preços Relativos e seus Reguladores 388
1. Exemplo numérico dos efeitos de mudanças nas unidades 389
2. Deficiências da análise de regressão para análise transversal 389
3. Definindo a medida apropriada de desvios 391
V. Evidência sobre Preços de Mercado em Relação a Preços Diretos 395
1. Evidência transversal 395
2. Evidência de séries temporais 396
3. Testes de Schwartz–Puty da hipótese de séries temporais ricardianas 398
VI. Preços de Produção, Preços Diretos e Preços de Mercado 400
1. Questões teóricas 400
2. Exemplo numérico 404
VII. Evidência sobre Preços de Produção como Funções da Taxa de Lucro em Relação a Preços Diretos e Preços de Mercado 406
1. Modelo de capital circulante 406
2. Implicações de razões lineares de produção–capital 406
3. Modelo de capital fixo 410
VIII. Medidas de Distância Empíricas 413
IX. Evidência Empírica sobre Preços de Produção à Taxa de Lucro Observada em Relação a Preços Diretos e de Mercado 416
1. Evidência transversal 416
2. Resolução do enigma da distância dos preços de mercado em relação a preços de produção e diretos 417
3. Evidência de séries temporais 419
X. Curvas de Salários–Lucros, 1947–1998 422
XI. Origens e Desenvolvimentos da Teoria Clássica de Preços Relativos 424
1. Origens clássicas 424
2. Desenvolvimentos teóricos modernos 426
i. Sraffa 426
ii. Vertentes sraffianas 428
iii. Debate sobre a teoria de preços relativos 428
iv. Teoria neoclássica de distribuição e emprego 429
3. Evidência empírica moderna 433
XII. Resumo e Implicações da Teoria Clássica de Preços Relativos 438
Capítulo 10 - Competição, Finanças e Taxas de Juros 443
I. Introdução 443
1. Taxas de juros 443
2. Taxa líquida de lucro 443
3. Estrutura a termo 444
4. Teorias ortodoxas e heterodoxas da taxa de juros 444
5. Preços de títulos 444
6. Preços de ações 445
7. Arbitragem financeira 445
II. Concorrência e Taxas de Juros 447
1. Concorrência e setor bancário 447
2. Taxa de lucro da empresa (r – i) 447
3. Relação da taxa de juros com o nível de preços e a taxa de lucro 449
4. Implicações da teoria clássica da taxa de juros 452
5. Uma teoria estrutural da curva de rendimento 452
III. Concorrência e o Mercado de Ações 454
IV. Concorrência e o Mercado de Títulos 456
V. Resumo da Teoria Clássica das Finanças 458
VI. Evidência Empírica 461
1. Igualização da taxa reguladora de lucro do banco 461
2. Igualização da taxa de empréstimo do banco com o rendimento de títulos corporativos 461
3. Igualização das taxas de juros de ativos financeiros semelhantes 462
4. Taxas de juros não refletem margens fixas na taxa base 462
5. Taxa de lucro e a taxa de juros 464
6. Taxas de juros e preços 464
VII. Uma Pesquisa Crítica das Teorias de Taxa de Juros 475
1. Teorias de taxa de juros têm duas dimensões 475
2. Smith, Ricardo e Mill 475
3. Marx 476
4. Teorias neoclássicas e keynesianas do nível de taxas de juros 480
i. Arbitragem iguala taxas de retorno 480
ii. Dois problemas adicionais: Níveis de taxa de juros e estrutura a termo 480
iii. Teoria neoclássica do nível de taxas de juros 480
iv. Teorias keynesianas e hicksianas do nível de taxas de juros 480
v. Teorias pós-keynesianas do nível de taxas de juros 482
5. Teorias neoclássicas e keynesianas da estrutura a termo de taxas de juros 483
i. Keynes e Hicks sobre a estrutura a termo 484
ii. Teorias pós-keynesianas da estrutura a termo 485
6. Síntese de Panico das abordagens clássica e keynesiana 485
VIII. Teorias do Mercado de Ações 488
1. Arbitragem e teoria financeira moderna 488
2. Arbitragem e avaliação de ações 488
Capítulo 11 - Competição Internacional e a Teoria das Taxas de Câmbio 491
I. Introdução 491
1. Teoria do comércio é uma parte crítica dos debates sobre custos e benefícios da globalização 491
2.Teoria e prática do neoliberalismo 492
3. Defensores do neoliberalismo 493
4. Críticos do neoliberalismo 493
5. Debate parece ser sobre concorrência perfeita versus concorrência imperfeita 495
6. Concorrência real não implica custos comparativos: Reposicionando o debate 495
II. As Fundamentações Teóricas da Política de Comércio Convencional 495
1. Teoria convencional do livre comércio 495
2. Duas premissas cruciais: Custos comparativos e pleno emprego 496
3. Custos comparativos 496
4. Pleno emprego 497
5. Resumo da teoria de comércio padrão 498
6. Problemas com a teoria de comércio padrão 498
III. Reações aos Problemas da Teoria de Comércio Padrão 500
1. Reação 1 aos problemas da teoria padrão: Ajustamento lento 500
2. Reação 2 aos problemas da teoria padrão: Introduzir imperfeições 500
IV. Princípio de Custos Comparativos de Ricardo 502
1. Concorrência real 502
2. Ricardo também parte de empresas em busca de lucro 502
3. Ricardo sobre consequências macroeconômicas do comércio desequilibrado 502
4. Taxas de câmbio fixas versus flexíveis 503
5. Transformação da regra de custos absolutos para a regra de custos comparativos 503
6. Mudança de Ricardo do comércio realizado por capitais para comércio realizado por nações 504
7. Exemplo numérico do ajuste ricardiano 505
V. Concorrência Real Implica Vantagem em Custos Absolutos 508
1. Introdução 508
2. O primeiro problema: Feedback de preços para custos 508
3. O segundo problema: Desequilíbrios comerciais e balança de pagamentos 509
4. A teoria clássica do livre comércio 509
5. Regulação de capitais em um contexto internacional 510
i. Preços de produção antes do comércio 510
ii. Custos comparativos 510
iii. Custos absolutos 511
iv. Caso de referência de composições técnicas iguais mas eficiências diferentes 511
v. Independência completa de custos comparativos de preços relativos no caso de referência 512
vi. Caso geral 512
vii. A decomposição de Smith 513
viii. Custos reais comparativos integrados 514
ix. Três possíveis resultados no caso clássico 2 x 2 514
x. O caso intermediário é o geral 516
xi. Bens comercializáveis e não comercializáveis 516
xii. Paridade do Poder de Compra e Lei do Preço Único 517
xiii. Paridade do Poder de Compra e componente composicional da taxa de câmbio real 519
xiv. Custos reais efetivos como proxies para custos reguladores 519
6. Balanços comerciais, fluxos de capital e balança de pagamentos 520
7. Resumo da abordagem clássica ao livre comércio 522
VI. Evidência Empírica 522
1. A persistência de modelos teóricos empiricamente fracos como guia para políticas 527
2. Evidência empírica sobre a relação entre taxas de câmbio reais e custos reais 528
3. Implicações da abordagem clássica para taxas de câmbio de longo prazo 532
Parte III: Dinâmica Macroeconômica Turbulenta
Capítulo 12 - O Surgimento e Declínio da Macroeconomia Moderna 539
I. Introdução 539
1. Macroeconomia como consequências agregadas de ações individuais 540
2. Tendências centrais versus mundos idealizados 540
3. Macroeconomia, propriedades emergentes e leis turbulentas 541
4. Macroeconomia neoclássica e agentes representativos 542
5. Dez questões críticas na análise macroeconômica 542
i. As características microeconômicas não precisam se traduzir 542
ii. A macro sempre se baseou no comportamento micro 542
iii. Muitas bases micro são consistentes com algum padrão macro dado 543
iv. A noção de equalização turbulenta requer ferramentas correspondentes 543
v. As dimensões temporais são diferentes: processos rápidos e lentos 543
vi. O crescimento é o estado normal 544
vii. Expectativas, reais e fundamentos estão relacionados reflexivamente 544
viii. Concorrência real implica curvas de demanda decrescente 545
ix. Concorrência real não implica mercado sempre em equilíbrio 546
x. Lei de Say e a divisão na tradição clássica sobre demanda externa e neutralidade da moeda 546
6. Contabilidade para demanda, oferta e capacidade agregadas 548
i. Três equilíbrios ex ante 548
ii. Equilíbrios ex post 549
iii. Equilíbrios de equilíbrio 549
iv. Dimensões temporais 549
v. Relação básica poupança-investimento 550
vi. Produção e capacidade 550
vii. Utilização normal da capacidade não implica Lei de Say 552
II. Macroeconomia Pré-Keynesiana 553
1. A substituição da economia clássica pela economia neoclássica 553
2. Raízes walrasianas da economia neoclássica 553
3. Ortodoxia neoclássica pré-keynesiana 554
i. Proposições ortodoxas centrais atacadas por Keynes 554
ii. Argumento neoclássico sobre oferta de pleno emprego 555
iii. Argumento neoclássico sobre demanda agregada e taxa de juros 556
III. A Revolução de Keynes 557
1. Experiência prática de Keynes após a Primeira Guerra Mundial 557
2. Nova formulação de Keynes 558
i. A produção leva tempo, portanto, é governada pelo lucro esperado 558
ii. A demanda agregada tem componentes autônomos 558
iii. A poupança se ajusta ao investimento 558
iv. Derivação da relação investimento-poupança e o multiplicador 559
v. Efeitos da lucratividade e das taxas de juros no nível de produção 559
3. A representação IS-LM de Keynes pela abordagem de Hicks 561
4. Ascensão e queda da teoria e política keynesiana 563
5. Ascensão e queda do modelo IS-LM/Curva de Phillips 563
IV. O Retorno da Economia Neo-Walrasiana 566
1. Monetarismo 567
i. A velha Teoria Quantitativa do Dinheiro 567
ii. A nova Teoria Quantitativa do Dinheiro 568
iii. Friedman sobre a Grande Depressão 568
2. A taxa natural de desemprego e inflação no contexto de expectativas adaptativas 569
i. O problema enfrentado pelas teorias macro nos anos 70 569
ii. Emprego friccional nas teorias keynesianas e neoclássicas 570
iii. Taxas naturais de emprego e desemprego 570
iv. Efeitos de curto e longo prazo de mudanças na demanda agregada 572
v. A ligação com a inflação 573
vi. Taxa de inflação não acelerada do desemprego 575
3. Expectativas racionais e a Nova Teoria Clássica 576
i. Papel das expectativas em Friedman e Phelps 576
ii. Os Novos Clássicos constroem sobre essa estrutura 576
iii. Expectativas hiper-racionais 577
iv. Lucas 578
4. Teoria do Ciclo de Negócios Real 580
i. Estrutura analítica do modelo da Teoria do Ciclo de Negócios Real 580
ii. Implicações de política da Teoria do Ciclo de Negócios Real 581
iii. Calibração para imitar alguns padrões reais versus teste econométrico 582
5. Economia Keynesiana Neoclássica 583
6. Economia comportamental convencional 584
V. Kalecki 584
VI. Economia Pós-Keynesiana 587
1. Introdução 587
2. Davidson 588
3. Ala Kaleckiana-Estruturalista da teoria pós-keynesiana 588
i. Godley 589
ii. Taylor 591
4. Temas gerais na teoria pós-keynesiana 594
i. Crescimento liderado por salários e crescimento liderado por lucros: resultados alternativos de curto prazo ou fases sucessivas de longo prazo? 596
ii. Limites de crescimento de longo prazo 596
iii. O desemprego pode ser eliminado por meio de política adequada 597
Capítulo 13 - Dinâmica Macroeconômica Clássica 598
I. Introdução 598
II. Uma Reconsideração da Teoria da Demanda Efetiva 599
1. As fundações microeconômicas da demanda efetiva 599
2. As implicações temporais da sequência do multiplicador 600
3. Crédito como combustível e dívida como consequência do multiplicador 603
4. A importância de uma taxa de poupança constante na teoria keynesiana 604
5. A relação entre utilização real e normal da capacidade 605
6. A relação entre resultados esperados e reais 607
7. Processos de ajuste em um contexto dinâmico 608
8. Demanda exógena no sistema harrodiano e o chamado Supermultiplicador sraffiano 610
9. Tendências determinísticas versus estocásticas 612
10. Implicações da endogeneidade da oferta de dinheiro para a teoria da taxa de juros 613
11. Demanda agregada e nível de preços 614
12. Recursos subutilizados como um fenômeno normal 614
III. Economia Clássica Moderna: A Centralidade do Lucro 615
1. O lucro regula tanto a oferta quanto a demanda 615
2. Endogeneidade da taxa de poupança empresarial 616
3. Lucro, financiamento do investimento e crescimento 618
i. Financiamento interno puro do investimento por cada empresa 618
ii. Financiamento interno agregado do investimento por toda a empresa 621
iii. Estabilidade do financiamento interno agregado 621
iv. A taxa de juros não é a variável de ajuste chave 622
v. A taxa líquida de lucro aumenta com a taxa geral de lucro 623
vi. Processo modificado de ajuste da taxa de juros 624
vii. Poupança das famílias 624
viii. Sensibilidade da taxa de poupança das famílias à taxa de juros não altera a dinâmica 625
ix. Crédito bancário privado 625
x. Crédito bancário fornece uma base para os ciclos 626
xi. Déficits governamentais e demanda estrangeira 627
4. Resumo da dinâmica clássica 628
i. Equilíbrio clássico 629
ii. Propriedades do equilíbrio clássico 629
iii. Nível de produção 632
5. Resumo da teoria clássica de crescimento 636
14. A Teoria dos Salários e do Desemprego 638
I. Introdução 638
II. Salários e Desemprego nas Teorias Econômicas 639
1. Teoria salarial neoclássica e pós-harrodiana 639
2. Teorias salariais kaleckianas e pós-keynesianas 641
3. Abordagens goodwinianas e pós-goodwinianas 641
i. Modelos pós-keynesianos pós-goodwinianos 642
ii. Modelos clássicos pós-goodwinianos 644
iii. Objeto deste capítulo 645
III. Interações Dinâmicas entre a Participação Salarial, a Taxa de Desemprego e a "Taxa Natural" de Crescimento Harrodiana 646
1. Teoria do salário real: Do micro ao macro estocástico 646
2. Responsividade da força de trabalho ao desemprego 648
3. A Curva Clássica 648
4. Determinantes da taxa de desemprego 650
5. Efeitos da produtividade e do crescimento da força de trabalho 650
IV. Taxas Normais Versus "Naturais" de Desemprego 660
V. A Relação entre a Curva Salarial Clássica e a Curva de Phillips 661
1. A curva de Phillips geral 662
2. Três respostas à pergunta original de Phillips 662
VI. Evidências Empíricas sobre Crescimento, Desemprego e Salários 663
VII. Resumo e Implicações da Dinâmica Macroeconômica Clássica 672
15. Dinheiro Moderno e Inflação 677
I. Dinheiro, Mercados e o Estado 677
II. Visões Cartalistas e Neo-Cartalistas do Dinheiro 680
1. Dinheiro, bancos e Babilônia 681
2. Innes 682
3. Knapp 684
4. Cartalismo Moderno 685
III. Finanças Governamentais Modernas 688
IV. Crescimento, Rentabilidade e Nível de Preços 692
1. A teoria clássica da concorrência estabelece apenas preços relativos 692
2. Dinheiro fiat puro em abordagens clássicas, monetaristas, keynesianas e pós-keynesianas 693
3. Níveis de preços determinados versus dependentes do caminho 694
4. Taxa máxima de crescimento 694
5. O trabalho não é a restrição 695
6. Taxa de utilização de crescimento 695
7. Determinantes da taxa de crescimento do capital real 696
V. Demand-Pull 697
1. Demanda excessiva e injeções de poder de compra 697
2. Novo poder de compra e mudança na produção nominal 698
VI. Resposta à Oferta 699
VII. A Teoria da Inflação sob Dinheiro Fiat 702
VIII. Evidências Empíricas 703
1. Estados Unidos 703
i. Crescimento do PIB nominal como função do poder de compra relativo 703
ii. Crescimento do produto real, lucratividade, poder de compra e utilização do crescimento 705
iii. Inflação nos Estados Unidos 705
2. Inflação em dez países (Handfas) 712
3. Inflação em escala mundial 712
4. Argentina 719
IX. Resumo e Comparação com a Taxa de Desemprego Não Aceleradora da Inflação 721
16. Crescimento, Rentabilidade e Crises Recorrentes 724
I. Introdução 724
1. Depressões recorrem 726
2. Depressões são negadas 728
3. Esboço do capítulo 728
II. Rentabilidade no Período Pós-Guerra 729
1. Taxas de lucro normais e reais 729
2. Produtividade e salários reais 730
3. Impacto na rentabilidade da supressão do crescimento salarial real 731
4. Taxa de retorno sobre o capital médio versus novos investimentos 731
5. O caminho extraordinário da taxa de juros no pós-guerra 731
6. A taxa de lucro da empresa e o grande boom após os anos 1980 734
III. Efeitos Globais da Crise Atual 736
1. Estados Unidos 736
2. Outros países desenvolvidos 737
3. Escala global 739
IV. Lições e Possibilidades de Política: Austeridade Versus Estímulo 740
V. Sobre o Papel da Teoria Econômica 745
17. Resumo e Conclusões 746
I. Introdução 746
1. Perfeição e imperfeição 747
2. Críticas internas 747
II. Implicações e Aplicações da Competição Clássica 747
1. Padrões legais apesar de comportamentos heterogêneos 748
2. Tendências de igualação como base para distribuições estáveis de taxas salariais e de lucro 749
3. Das distribuições de salários e taxas de lucro para a distribuição geral de renda 751
4. Aumento da desigualdade e a distribuição de renda de classe 755
III. Salários, Impostos e o Salário Social Líquido 755
IV. Piketty 756
V. Desenvolvimento e Subdesenvolvimento 759
Apêndices
Apêndice 2.1. Fontes e Métodos para o Capítulo 2 763
Apêndice 2.2. Tabelas de Dados para o Capítulo 2
(disponíveis online em http://www.anwarshaikhecon.org/)
Apêndice 4.1. Fluxos e Estoques de Produção nas Contas Nacionais 767
Apêndice 4.2. Cálculos Numéricos para Figuras 4.1–4.18 772
(disponíveis online em http://www.anwarshaikhecon.org/)
Apêndice 5.1. Citações de Pontos Chave na Teoria Monetária de Marx 782
Apêndice 5.2. Fontes e Métodos para o Capítulo 5 788
Apêndice 5.3. Tabelas de Dados para o Capítulo 5
(disponíveis online em http://www.anwarshaikhecon.org/)
Apêndice 6.1. Álgebra de Lucro e Trabalho Excedente 790
Apêndice 6.2. A Taxa de Lucro como uma Taxa Real 796
Apêndice 6.3. Estoques Brutos e Líquidos de Capital 801
Apêndice 6.4. Marx e Sraffa sobre Capital Fixo como um Produto Conjunto 804
Apêndice 6.5. Medição do Estoque de Capital 807
Apêndice 6.6. Medição da Utilização da Capacidade 822
Apêndice 6.7. Métodos e Fontes Empíricas 828
Apêndice 6.8. Tabelas de Dados para o Capítulo 6
(disponíveis online em http://www.anwarshaikhecon.org/)
Apêndice 7.1. Fontes e Métodos de Dados para o Capítulo 7 856
Apêndice 7.2. Tabelas de Dados para o Capítulo 7
(disponíveis online em http://www.anwarshaikhecon.org/)
Apêndice 8.1. Tabelas de Dados para o Capítulo 8
(disponíveis online em http://www.anwarshaikhecon.org/)
Apêndice 9.1. Álgebra Matricial da Teoria de Preços Clássicos 861
Apêndice 9.2. Fontes e Métodos para o Capítulo 9 867
Apêndice 9.3. Tabelas de Dados para o Capítulo 9
(disponíveis online em http://www.anwarshaikhecon.org/)
Apêndice 10.1. Fontes e Métodos para o Capítulo 10 873
Apêndice 10.2. Tabelas de Dados para o Capítulo 10
(disponíveis online em http://www.anwarshaikhecon.org/)
Apêndice 11.1. Fontes e Métodos de Dados para o Capítulo 11 875
Apêndice 11.2. Tabelas de Dados para o Capítulo 11
(disponíveis online em http://www.anwarshaikhecon.org/)
Apêndice 12.1. Fontes e Métodos para o Capítulo 12 881
Apêndice 12.2. Tabelas de Dados para o Capítulo 12
(disponíveis online em http://www.anwarshaikhecon.org/)
Apêndice 13.1. Estabilidade de Processos Multiplicadores 882
Apêndice 14.1. Dinâmica dos Modelos Clássicos e Goodwin 889
Apêndice 14.2. Fontes de Dados, Métodos e Regressões 892
Apêndice 14.3. Tabelas de Dados para o Capítulo 14
(disponíveis online em http://www.anwarshaikhecon.org/)
Apêndice 15.1. Fontes e Métodos para o Capítulo 15 895
Apêndice 15.2. Tabelas de Dados para o Capítulo 15
(disponíveis online em http://www.anwarshaikhecon.org/)
Apêndice 16.1. Fontes e Métodos para o Capítulo 16 898
Apêndice 16.2. Tabelas de Dados para o Capítulo 16
(disponíveis online em http://www.anwarshaikhecon.org/)
Apêndice 17.1. Fontes e Métodos para o Capítulo 17 900
Apêndice 17.2. Tabelas de Dados para o Capítulo 17
(disponíveis online em http://www.anwarshaikhecon.org/)
Nota sobre Abreviações 901
Referências 913
Índice de Autores 951
Índice de Assuntos 961
Lista de Figuras:
2.1 Índice de Produção Industrial dos EUA, 1860–2010 57
2.2 Índice de Investimento Real dos EUA, 1832–2010 57
2.3 PIB Real por Capita dos EUA, 1889–2010 58
2.4A Ciclos Econômicos, 1831–1866 58
2.4B Ciclos Econômicos, 1867–1902 59
2.4C Ciclos Econômicos, 1903–1939 59
2.5 Produtividade Manufatureira dos EUA e Salário Real do Trabalhador de Produção, 1889–2010 (1889 = 100) 60
2.6 Índice de Custo Unitário de Mão de Obra Real na Produção Manufatureira dos EUA, 1889–2010 61
2.7 Taxa de Desemprego dos EUA, 1890–2010 62
2.8 Índices de Preços no Atacado dos EUA e do Reino Unido, 1780–2010 (1930 = 100, Escala Logarítmica) 63
2.9 Índices de Preços no Atacado dos EUA e do Reino Unido, 1780–1940 (1930 = 100, Escala Logarítmica) 64
2.10 Preços no Atacado dos EUA e do Reino Unido em Onças de Ouro, 1790–2010 (1930 = 100, Escala Logarítmica) 64
2.11 Taxa de Lucro Corporativo nos EUA 1947–2011 66
2.12 Taxas Médias de Lucro na Produção Manufatureira dos EUA 1960–1989 67
2.13 Taxas Incrementais de Lucro na Produção Manufatureira dos EUA 1960–1989 68
2.14 Preços Totais Normalizados de Produção: Lucro versus Custo Unitário Total da Mão de Obra, EUA 1972 (Setenta e uma Indústrias) 70
2.15 PIB per Capita de Regiões do Mundo em 1990, Dólares Internacionais Geary–Khamis (Escala Logarítmica) 70
2.16 PIB per Capita dos Quatro Países Mais Ricos e dos Quatro Países Mais Pobres, Dólares Internacionais Geary–Khamis (Escala Logarítmica) 71
2.17 Razão do PIB per Capita dos Quatro Países Mais Ricos para os Quatro Países Mais Pobres, Dólares Internacionais Geary–Khamis (Escala Logarítmica) 72
3.1 Escolha Restrita pelo Orçamento 91
3.2 Aumento no Preço do Bem Necessário 92
3.3 Mudança no Gasto Relativo à Mudança na Renda, Caso I 94
3.4 Participação no Gasto em Bens Necessários, Caso I 94
3.5 Curva de Engel para Bens Necessários, Caso I 94
3.6 Propensão Discreta ao Consumo, Caso II 94
3.7 Curva de Engel para Bens Necessários, Caso II 95
3.8 Participação Empírica no Gasto com Alimentação (Orçamentos da Classe Trabalhadora, Reino Unido, 1904) 95
3.9 Curva de Engel Empírica para Alimentação (Orçamentos da Classe Trabalhadora, Reino Unido, 1904) 95
3.10 Curvas de Demanda para Bens Necessários (x1), Quatro Fundamentos Micro Diferentes 99
3.11 Curvas de Demanda para Bens Luxuosos (x2), Quatro Fundamentos Micro Diferentes 100
3.12 Equilíbrio como um Estado Alcançado (Ajuste Monótono Estável) 104
3.13 Equilibração como Gravitação Turbulenta (Ajuste Monótono Estável com Ruído) 105
3.14 Equilíbrio como Crescimento Turbulento (Ajuste Monótono Estável ao Redor de um Caminho de Crescimento, com Choques) 106
3.15 Micro Independência de Propriedades Macro Emergentes 111
4.1 Produtividade por Horas Trabalhadas em Diferentes Intensidades de Trabalho, para um Turno de Referência de uma Dada Tecnologia 136
4.2 Produção por Horas Trabalhadas em Diferentes Intensidades de Trabalho, para um Turno de Referência de uma Dada Tecnologia 137
4.3 Coeficiente de Trabalho por Horas Trabalhadas em Diferentes Intensidades de Trabalho, para um Turno de Referência de uma Dada Tecnologia 137
4.4 Coeficiente de Máquinas por Horas Trabalhadas em Diferentes Intensidades de Trabalho, para um Turno de Referência de uma Dada Tecnologia 138
4.5 Produção Diária a partir de Diferentes Combinações de Turnos Totalizando 20 Horas por Dia, na Intensidade Máxima de Trabalho 139
4.6 Produtos Médio e Marginal do Trabalho da Curva de Saída Técnica Máxima (10:10) 141
4.7 Função de Produção Neoclássica de Curto Prazo (Saída Bruta versus Serviços de Trabalho, com um Estoque de Máquinas Dado) 144
4.8 Produção por Hora na Função de Produção Neoclássica (Saída Bruta por Hora versus Capital por Hora, com um Estoque de Máquinas Dado) 144
4.9 Produção versus Emprego, para Turnos de 8 Horas Operados até a Capacidade de Engenharia (Dois Turnos e Meio) 145
4.10 Produção por Trabalhador versus Máquinas por Trabalhador, para Turnos de 8 Horas Operados até a Capacidade de Engenharia (Dois Turnos e Meio) 145
4.11 Produção versus Horas Trabalhadas, para Turnos de 8 Horas Operados até a Capacidade de Engenharia (Dois Turnos e Meio) 146
4.12 Produção por Trabalhador por Hora versus Máquinas por Trabalhador por Hora, para Turnos de 8 Horas Operados até a Capacidade de Engenharia (Dois Turnos e Meio) 146
4.13 Produção por Trabalhador por Hora versus Horas de Máquina por Trabalhador por Hora, para Turnos de 8 Horas Operados até a Capacidade de Engenharia (Dois Turnos e Meio) 147
4.14 Coeficientes de Produção versus Produção para Turnos de 8 Horas Operados com Intensidade Normal até a Capacidade de Engenharia (Dois Turnos e Meio) 151
4.15 Curvas Típicas de Custos nas Três Principais Tradições Econômicas 153
4.16 Custos Médios e Marginais com Salário Pago por Trabalhador, com Intensidade Normal para Turnos de 8 Horas até a Capacidade de Engenharia (Dois Turnos e Meio) 155
4.17 Custos Médios e Marginais com Salário Pago por Hora, com Intensidade Normal para Turnos de 8 Horas até a Capacidade de Engenharia (Dois Turnos e Meio) 156
4.18 Lucro Total com Diferentes Acordos Salariais, com Intensidade Normal para Turnos de 8 Horas até a Capacidade de Engenharia (Dois Turnos e Meio) 157
4.19 Custo Unitário de Mão de Obra Automotiva 162
4.20 Custo Marginal de Mão de Obra Automotiva 162
4.21 Custo Médio de Mão de Obra Automotiva 162
4.22 Custo Marginal Automotivo 163
4.23 Curvas de Custo Escolhidas por 94% dos Empresários Pesquisados 163
Plate 1 Dentes de Cachorro, Nova Bretanha 170
Plate 2 Moedas Antigas Dinheiro Ching, China (232)
Pingente de caixa de tartaruga, usado em presentes ou em negociações comuns (179)
Pwomondap, Ilha Rossell, uma das moedas mais comuns na ilha (184)
Dinheiro de perna de besouro, Ilha San Matthias (130) 171
Plate 3 Moeda de Sal, Abissínia 172
Plate 4 Conchas, Uganda 172
5.1 Preços do Ouro nos EUA e no Reino Unido (Escala Logarítmica, 1930 = 100) 187
5.2 Índices de Preços no Atacado no Reino Unido em Libras Esterlinas, Dólares Americanos e Onças de Ouro (Escala Logarítmica, 1930 = 100) 187
5.3 Índices de Preços no Atacado nos EUA e no Reino Unido, 1790–1940 (Escala Logarítmica, 1930 = 100) 188
5.4 Índices de Preços no Atacado nos EUA e no Reino Unido, 1790–2010 (Escala Logarítmica, 1930 = 100) 189
5.5 Índices de Preços no Atacado no Reino Unido em Onças de Ouro e Preço em Libras Esterlinas do Ouro, 1790–2009 (Escala Logarítmica, 1930 = 100) 198
5.6 Índices de Preços no Atacado nos EUA em Onças de Ouro e Preço em Dólares Americanos do Ouro, 1800–2009 (Escala Logarítmica, 1930 = 100) 199
6.1 Taxas de Lucro Corporativo e Não Corporativo 246
6.2 Medidas de Rentabilidade Corporativa Corrigidas para Juros Imputados e Inventários versus Medidas NIPA Convencionais 249
6.3 Razões de Componentes que Explicam a Diferença entre Taxas de Lucro Corrigidas e Convencionais 250
6.4 Taxa de Utilização de Nova Capacidade Comparada à Taxa do FRB 251
6.5 Taxas de Lucro Corporativo em Capacidade Normal, Medidas Corrigidas versus Medidas Convencionais 252
6.6 Proxies para Taxas de Lucro Corporativo em Capacidade Normal 253
6.7 Taxas de Lucro Incrementais Corporativas Corrigidas Atuais e Medidas de Proxy NIPA (Numericamente, Taxas Atuais = Taxas Reais) 255
7.1 Estrutura de Custos na Indústria A (Condições Únicas ou Coiguais de Produção) 266
7.2 Estrutura de Custos na Indústria B (Agricultura ou Mineração) 267
7.3 Estrutura de Custos na Indústria C (Tecnologias Mais Antigas versus Mais Novas) 267
7.4 Efeito nas Taxas de Lucro da Concorrência dentro de uma Indústria 268
7.5 Efeito nas Taxas de Lucro da Concorrência entre Indústrias 269
7.6 Igualação das Taxas de Lucro ao Longo de um "Ciclo de Anos Magros e Gordos" 269
7.7 A Concorrência Pode Dar Origem a Diferenças Persistentes nas Taxas de Lucro Nacionais 270
7.8 Curvas de Custo em Andrews e Brunner 275
7.9 Equilíbrio de Longo Prazo de Harrod versus Concorrência Monopolística 280
7.10 Visão de Andrews sobre o Espectro Empírico de Custos Unitários em Relação à Escala da Planta 284
7.11 Variação no Preço de Venda versus Variação no Custo Unitário de Mão de Obra, EUA 1923–1950 (Razão de Cada Variável em 1950 para seu Valor em 1923) 287
7.12 Variação no Preço de Venda versus Variação no Custo Unitário de Mão de Obra, Reino Unido 1954–1963 (Razão de Cada Variável em 1963 para seu Valor em 1954) 287
7.13 Taxas Médias e Incrementais de Lucro na Manufatura Mundial, 1970–1989 303
7.14 Taxas Médias e Incrementais de Lucro na Manufatura dos EUA, 1960–1989 304
7.15 Taxas Médias de Lucro em Indústrias dos EUA, 1987–2005 306
7.16 Desvios das Taxas de Lucro da Indústria dos EUA em Relação à Média 307
7.17 Taxas Incrementais de Lucro em Indústrias dos EUA, 1987–2005 308
7.18 Desvios das Taxas Incrementais de Lucro da Indústria dos EUA em Relação à Média 309
7.19 Desvios das Taxas de Lucro na Manufatura Grega em Relação à Taxa Média, 1962–1991 310
7.20 Desvios das Taxas Incrementais de Lucro na Manufatura Grega em Relação à Taxa Incremental Média, 1962–1991 311
7.21 Indústrias da OCDE, Desvios das Taxas Incrementais de Lucro de sua Média (Usando Taxas de Câmbio PPP) 312
7.22 Taxas de Lucro como Função do Preço de Venda 317
7.23 Escolha de Técnica na Competição Real sobre o Espaço de Possibilidades de Inovação Neutra 324
7.24 Escolha de Técnica sob Competição Real sobre o Espaço de Possibilidades de Inovação Direcionada 324
7.25 Dois Caminhos Possíveis para a Taxa de Lucro 325
8.1 Percursos de Preços de Indústrias Concentradas e Não Concentradas 371
8.2 Percentagem de Aumentos de Preços ou Ausência de Diminuições durante Contrações, em Relação à Concentração 372
8.3 Taxa de Lucro sobre o Patrimônio Líquido versus CR8, Quarenta e Duas Indústrias 374
8.4 Taxa de Lucro sobre o Patrimônio Líquido versus CR8, Dados Agrupados 375
8.5 Taxa de Lucro sobre Ativos (%) 376
8.6 Taxas de Retorno e Concentração (CR4), 1963 e 1969 377
9.1 Preços de Mercado Total Normalizados versus Preços Diretos Totais, Estados Unidos 396
9.2 Razões de Preço de Mercado–Preço Direto (Setenta e Uma Indústrias) 397
9.3 Exemplo Numérico de Três Setores 405
9.4 Razões Integradas de Produção–Capital em Relação ao Padrão, Estados Unidos, 1998 (Modelo de Capital Circulante) 407
9.5 Razões Integradas de Produção–Capital para Quatro Indústrias Excepcionais (Modelo de Capital Circulante) 408
9.6 Razões de Preço Padrão–Trabalho, Estados Unidos, 1998 (Modelo de Capital Circulante) 409
9.7 Preços Padrão para Quatro Indústrias Excepcionais, Estados Unidos, 1998 (Modelo de Capital Circulante) 410
9.8 Curva Real de Salários–Lucros, Estados Unidos, 1998 (Modelo de Capital Circulante) 410
9.9 Razões Integradas de Produção–Capital em Relação ao Padrão, Estados Unidos, 1998 (Modelo de Capital Fixo) 411
9.10 Razões de Preço Padrão–Trabalho, Estados Unidos, 1998 (Modelo de Capital Fixo) 412
9.11 Razões Integradas de Produção–Capital e Preços Padrão para as Quatro Indústrias Anteriormente Excepcionais, Estados Unidos, 1998 (Modelo de Capital Fixo) 413
9.12 Curva Real de Salários–Lucros, Estados Unidos, 1998 (Modelo de Capital Fixo) 413
9.13 Medidas de Distância de Desvios de Preço Padrão–Tempo de Trabalho, Estados Unidos, 1998 (Modelos de Capital Circulante e Fixo) 414
9.14 Elasticidades das Medidas de Distância, Desvios de Preço Padrão de Produção–Tempo de Trabalho, Estados Unidos, 1998 (Modelos de Capital Circulante e Fixo) 415
9.15 Preços de Produção versus Preços Diretos 416
9.16 Preços de Produção versus Preços de Mercado 417
9.17 Exemplo Numérico, Preço de Produção–Preço Direto e Preço de Mercado–Preço Direto 420
9.18 Razões de Preço de Produção–Preço Direto (Setenta e Uma Indústrias) 421
9.19 Curvas Reais de Salários–Lucros, 1947–1972 423
9.20 Duas Curvas Lineares de Salários–Lucros 432
9.21 Função de Produção Substituta de Samuelson e Fronteira de Salários–Lucros 433
9.22 Duas Curvas Não Lineares de Salários–Lucros 434
10.1 Taxas Incrementais de Lucro, Bancos versus Todas as Indústrias Privadas, 1988–2005 462
10.2 Taxa de Juros de Empréstimos Bancários e Rendimento de Títulos Corporativos 463
10.3 Taxas de Juros Curtas e Longas nos EUA 463
10.4 Taxas de Juros Curtas e Longas nos EUA Relativas à Taxa de Desconto 464
10.5 Taxa de Lucro Empresarial e Taxa Prime Bancária 465
10.6 Taxa de Juros e o Nível de Preços, 1857–2011 465
10.7 Preço Relativo das Finanças, 1857–2011 466
10.8 Taxa de Juros Real e seu Valor Filtrado por HP, 1857–2011 467
10.9 Rendimento de Dividendos versus Rendimento de Títulos, 1871–2011 468
10.10 Taxas de Retorno de Títulos e Ações, 1926–2010 469
10.11 Taxa de Retorno Atual de Ações versus Taxas Incrementais de Lucro Corporativo Ajustadas e NIPA, 1948–2011 470
10.12 Taxa de Retorno Atual de Ações versus Taxa de Lucro Média Corporativa e Taxa de Desconto Real de Shiller 2014 472
10.13 Preço Real Atual das Ações versus Preço Racional EMH e Preço Warrantizado Clássico, 1948–2011 474
11.1 A Dualidade Ricardiana 508
11.2 Balanços Comerciais em Países Principais, 1960–2009 (Exportações/Importações) 524
11.3 Taxas de Câmbio Efetivas Reais (Base PPI), Estados Unidos e Japão, 1960–2009 526
11.4 Taxa de Câmbio Efetiva Real dos EUA e Custos Unitários Efetivos Reais Ajustados 530
11.5 Taxa de Câmbio Efetiva Real do Japão e Custos Unitários Efetivos Reais Ajustados 530
11.6 Lei do Preço Único no Nível Agregado, Estados Unidos e Japão, 1960–2009 531
11.7 Balança Comercial dos EUA, Taxa de Câmbio Real e PIB Relativo, 1960–2009 534
12.1 Produção, Custos e Capacidade Normal 552
12.2 Resultado do Pleno Emprego Neoclássico 556
12.3 Ajuste Poupança–Investimento Neoclássico de Hicks 557
12.4 Resumo IS–LM de Hicks dos Principais Argumentos de Keynes 562
12.5 Curva de Phillips, Estados Unidos, 1955–1970 564
12.6 Taxas de Inflação e Desemprego nos EUA, 1955–1970 e 1971–1986 565
12.7 Curva de Phillips, Estados Unidos, 1971–1981 565
12.8 Curva de Phillips, Estados Unidos, 1955–2010 566
12.9 Expectativas de Curto e Longo Prazo, Curva de Phillips Augmentada por Expectativas 574
13.1 Processo Multiplicador Keynesiano com um Aumento Temporário no Nível de Investimento 602
13.2 Processo Multiplicador Keynesiano com um Aumento Permanente no Nível de Investimento 602
13.3 Processo Multiplicador Generalizado com um Aumento Temporário no Investimento 605
13.4 Processo Multiplicador Generalizado com um Aumento Permanente no Investimento 606
13.5 Taxas Normais de Lucro, Juros e Lucro Empresarial 623
13.6 Acumulação Clássica 631
13.7 Percursos Real e de Equilíbrio da Produção 633
13.8 Efeito de uma Queda Permanente na Taxa de Lucro 634
13.9 Efeito de um Aumento Temporário na Lucratividade ou Poder de Compra 634
13.10 Efeitos da Demanda Excessiva Persistente no Nível e Tendência da Produção 635
14.1 Salário Médio Real por Trabalhador 647
14.2 A Curva Clássica 649
14.3 Efeitos de um Impulso Temporário na Demanda na Participação Salarial, Desemprego e Taxa de Lucro da Capacidade Normal 654
14.4 Efeitos de um Impulso Temporário na Demanda nas Taxas de Crescimento 655
14.5 Efeitos de um Impulso Temporário na Demanda nos Níveis de Produção, Emprego, Salários Reais e Produtividade em Relação aos Valores de Referência 655
14.6 Efeitos de um Impulso Sustentado na Demanda na Participação Salarial, Desemprego e Taxa de Lucro da Capacidade Normal 656
14.7 Efeitos de um Impulso Sustentado na Demanda nas Taxas de Crescimento 657
14.8 Efeitos de um Impulso Sustentado na Demanda nos Níveis de Produção, Emprego, Salários Reais e Produtividade em Relação aos Valores de Referência 657
14.9 Percurso Teórico da Participação Salarial versus Desemprego 659
14.10 Crescimento do PIB Nominal e Nível da Participação Salarial, Estados Unidos, 1948–2011 664
14.11 Medidas de Desemprego, Estados Unidos, 1948–2011 664
14.12 Percurso Empírico da Participação Salarial versus Intensidade do Desemprego, Estados Unidos, 1948–2011 665
14.13 Taxa de Variação da Participação Salarial versus Intensidade do Desemprego, Estados Unidos, 1949–2011 666
14.14 Valores Filtrados por HP(100), Taxa de Variação da Participação Salarial versus Intensidade do Desemprego, Estados Unidos, 1949–2011 667
14.15 Inflação e Crescimento da Produtividade, Estados Unidos, 1948–2011 670
14.16 Valores Filtrados por HP(100), Taxa de Variação dos Salários Reais versus Intensidade do Desemprego, Estados Unidos, 1949–2011 670
14.17 Valores Filtrados por HP(100), Taxa de Variação dos Salários Nominais versus Intensidade do Desemprego, Estados Unidos, 1949–2011 671
15.1 Nível de Preços ao Consumidor, Estados Unidos, 1774–2011 696
15.2A Taxas de Crescimento da Produção Real, Principais Indústrias dos EUA, 1987–2010 701
15.2B Taxas de Crescimento da Produção Real, Principais Indústrias dos EUA, 1987–2010 701
15.3 Crescimento do PIB Nominal e Poder de Compra Relativo Novo, 1950–2010 704
15.4 Crescimento do PIB Nominal versus Poder de Compra Relativo Novo 704
15.5 Crescimento da Produção Real versus a Taxa Líquida Real de Retorno sobre Novo Capital 706
15.6 Mudança na Produção Real versus Mudança nos Lucros Brutos Reais 706
15.7 Curvas do Tipo Phillips Clássica e Convencional, 1948–2010 707
15.8 Curvas do Tipo Phillips Clássica e Convencional, 1948–1981 708
15.9 Curvas do Tipo Phillips Clássica e Convencional, 1982–2010 710
15.10 Taxas Normalizadas de Inflação e Utilização do Crescimento 711
15.11 Tendência HP(100) da Taxa Líquida Incremental de Lucro 711
15.12 Inflação Mundial versus Crescimento do Crédito Privado e Público, 1970–1988 718
15.13 Inflação Mundial versus Crescimento do Crédito Privado e Público Total, 1988–2011 719
15.14 Crescimento Total do Crédito na Argentina e Crescimento do PIB Nominal 720
15.15 Crescimento Total do Crédito e Inflação 720
15.16 Inflação e Desvalorização da Moeda 721
16.1 Ondas Douradas dos EUA e do Reino Unido, 1786–2010 (1930 = 100) Desvios das Tendências Cúbicas Temporais 727
16.2 Taxas de Lucro Atuais e Normais e Participações nos Lucros 729
16.3 Salários Reais por Hora e Produtividade, Setor Empresarial dos EUA, 1947–2012 (1982 = 100) 731
16.4 Taxas de Lucro Reais Atuais e Contrafactuais das Corporações dos EUA, 1947–2011 732
16.5 Taxas Médias Corporativas e Taxas Incrementais Atuais (Reais) Suavizadas de Lucro 732
16.6 Taxa de Juros dos EUA, 1947–2011 (Letra do Tesouro a 3 Meses) 733
16.7 Taxas de Juros de Curto Prazo dos EUA e da OCDE, 1960–2011 734
16.8 Taxas Médias Líquidas Atuais e Incrementais Reais de Lucro, Corporações dos EUA, 1947–2011 735
16.9 Índice de Endividamento das Famílias em Relação à Renda, Estados Unidos, 1975–2011 735
16.10 Índice de Serviço da Dívida das Famílias, 1980–2012 736
17.1 A Crise Global de 2007 à Luz das Longas Ondas Passadas 749
17.2 Distribuição de Renda Pessoal abaixo de US$ 200.000, Probabilidade Cumulativa a Partir do Alto 752
17.3 Distribuição de Renda Pessoal acima de US$ 200.000, Probabilidade Cumulativa a Partir do Alto 753
Apêndices
6.6.1 Utilização da Capacidade, Corporações dos EUA 1947–2011 e Todas as Indústrias do FRB 827
6.7.1 Componente Equivalente a Salários da Renda dos Proprietários 833
6.7.2 Efeito do Ajuste Equivalente a Salários nas Taxas de Lucro Setoriais 834
6.7.3 Taxas de Depreciação Teóricas e de Consenso 844
6.7.4 Efeitos dos Valores Iniciais no Percurso do Estoque de Capital 846
6.7.5 Taxas Alternativas de Aposentadoria e Depreciação 847
6.7.6 Efeitos das Taxas Alternativas de Depleção nos Níveis de Estoques de Capital 847
6.7.7 Efeitos das Taxas Alternativas de Depleção nos Níveis Relativos de Estoques de Capital 848
6.7.8 Estoque Líquido Histórico Corporativo da BEA Comparado ao Valor Contábil do IRS 850
6.7.9 Estoque de Capital Fixo Líquido Atualizado para o Custo Atual Corporativo Ajustado para a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial 850
6.7.10 Estoques Finais de Capital Fixo Bruto e Líquido Atualizados, Setor Corporativo 851
13.1.A Quatro Resultados Diferentes para o Multiplicador Geral 884
13.1.B A Taxa de Poupança Endógena no Multiplicador Generalizado 887
Listas de Tabelas
3.1 Elasticidades Médias 100
3.2 Durações dos Ciclos de Igualação das Taxas de Lucro Incrementais, Manufatura dos EUA, 1960–1989 106
3.3 Tipologia Proposta de Velocidades de Ajuste 109
4.1 Igualdade entre o Superávit Operacional Bruto do NIPA e o Superávit Bruto Clássico 126
4.2 Estoques Físicos, Fluxos e Funções de Produção para Dois Turnos e Meio Totalizando 20 Horas 143
4.3 Coeficientes de Produção 150
4.4 Curvas de Custo 155
6.1 Produto Zero com uma Jornada de Trabalho de 4 Horas (Salário Diário wr = 4cn + 1ir) 214
6.2 Sem Lucro Agregado com um Produto Zero, com pcn = 0.7, pir = 5.25 214
6.3 Sem Lucro Agregado com um Produto Zero, com Diferentes Preços pcn = 0.795, pir = 3.977 215
6.4 Lucro Agregado com um Produto Zero e Preços de Venda (pcn = 1.591, pir = 7.955) Superiores aos Preços de Compra (pcn = 0.795, pir = 3.977) 215
6.5 Produto Excedente Agregado para uma Jornada de Trabalho de 8 Horas (Salário Diário wr = 4cn, 1ir) 216
6.6 Lucro Agregado com um Produto Excedente Positivo, com pcn = 0.7, pir = 5.25 216
6.7 Lucro Agregado com um Produto Excedente Positivo, com Preços de Venda pcn =1.4, pir = 10.50 Maiores do que os Preços de Compra pcn = 0.7,pir = 5.25 218
6.8 Três Conjuntos de Preços Relativos 218
6.9 Lucros Agregados Usando o Conjunto de Preços D 219
6.10 Lucros Agregados Usando o Conjunto de Preços C 219
6.11 Lucro Agregado Usando o Conjunto de Preços M 219
6.12 Novo Lucro Decorrente de Transferências entre o Circuito de Receita e o Circuito de Capital 222
6.13 Nenhum Novo Lucro com Transferências dentro do Circuito de Capital, Caso I 223
6.14 Nenhum Novo Lucro com Transferências dentro do Circuito de Capital, Caso II 223
6.15 Redução Líquida no Lucro Agregado de Transferências entre o Circuito de Receita e o Circuito de Capital 223
6.16 Lucro Agregado como o Preço do Produto Excedente 224
6.17 Usos do Produto Excedente 225
6.18 Estrutura de Produção da Indústria Composta Marxiana (Multiplicador do Setor de Milho = 1.0532, Multiplicador do Setor de Ferro = 0.8582) 228
6.19 Três Conjuntos de Preços Relativos 228
6.20 Lucro Agregado Usando o Conjunto de Preços D na Indústria Composta Marxiana 229
6.21 Lucro Agregado Usando o Conjunto de Preços C na Indústria Composta Marxiana 229
6.22 Lucro Agregado Usando o Conjunto de Preços M na Indústria Composta Marxiana 229
6.23 Decomposição das Taxas Médias de Mudança das Taxas de Lucro Corporativas dos EUA e Componentes 252
6.24 Taxas de Lucro Incrementais Corrigidas e do NIPA, Nominais e a Custo Atual 256
7.1 A Competição Dentro de uma Indústria Iguala Preços e Desiguala Taxas de Lucro 263
7.2 Efeitos de Cortes de Preço Universalmente Adotados nas Taxas de Lucro Relativas 263
7.3 Resumo das Características da Concorrência Real 271
7.4 Idade e Produtividade do Trabalho de Fábricas Existente 285
7.5 Diferenças de Produtividade entre as Melhores Práticas e Técnicas Médias 286
7.6 Efeitos de Cortes Parciais de Preços nas Taxas de Lucro Relativas 291
7.7 Taxas de Lucro e Risco por Tamanho da Empresa, 1970–1989 292
7.8 Regressões Básicas para Empresas Não Financeiras (Variáveis em Dólares de 2005) 294
7.9 Implicações das Regressões Básicas para Custos, Lucros e Tamanho da Empresa 295
7.10 Dois Concorrentes C e D1 a um Preço Inicial de Julgamento de $100 315
7.11 Dois Concorrentes C e D2 a um Preço Inicial de Julgamento de $100 315
7.12 Concorrentes C, D1 e D2 a um Preço que Dá a D2 a Taxa de Lucro Mais Alta 315
7.13 Estoques e Fluxos Totais no Caso Inicial de Capital Circulante 319
7.14 Forma do Coeficiente de Estoques e Fluxos no Caso Inicial de Capital Circulante 319
7.15 Custos Setoriais, Preços e Taxas de Lucro no Caso Inicial de Capital Circulante 319
7.16 Forma de Coeficientes de Métodos Alternativos de Produção de Ferro 320
7.17 Custos Setoriais, Preços e Taxas de Lucro dos Métodos Existentes e Alternativos de Produção de Ferro a Preços Pré-existentes 320
7.18 Custos Setoriais, Preços de Produção e Taxa Geral de Lucro Usando Ferro Alternativo 1 321
7.19 Custos Setoriais, Preços de Produção e Taxa Geral de Lucro Usando Ferro Alternativo 2 321
7.20 Possibilidades de Inovação e Escolha de Técnica 323
8.1 Comparação de Teorias de Competição 369
8.2 Taxa de Lucro sobre o Patrimônio, por Grau de Concentração e Barreiras à Entrada 375
8.3 Convergência para Médias Taxas de Lucro nas Amostras de Bain, Stigler e Mann 376
9.1 Fluxos Diretos e Totais de Tempo de Trabalho 383
9.2 Produção Simples de Mercadorias com Preços de Mercado Arbitrários 383
9.3 Produção Simples de Mercadorias com Ingressos Iguais por Hora 384
9.4 Produção Capitalista de Mercadorias com Salários e Taxa de Lucro Iguais e Preços de Produção 385
9.5 Razões Lucro/Salário em Países Avançados 388
9.6 Distribuição de Razões Diretas e Integradas Lucro/Salário, Estados Unidos, 1998 388
9.7 Efeitos de Mudanças em Unidades em Regressões e Medidas de Distância 390
9.8 Medidas Alternativas da Distância entre Preços e Preços Diretos 394
9.9 Preços de Mercado e Preços Diretos na Economia dos EUA, 1947–1998 396
9.10 Mudanças nas Razões de Preços de Mercado para Preços Diretos na Economia dos EUA, por Intervalo de Tempo 398
9.11 Variações na Produção, Pagamento e Preços Relativos ao Longo de Quatro Ciclos Econômicos nos EUA, 1919–1938 399
9.12 Produção e Preços Relativos ao Longo de Trinta e Um Ciclos Econômicos nos EUA, 1856–1969 400
9.13 Preços de Produção à Taxa de Lucro Observada e Preços Diretos, Modelo de Capital Fixo, Economia dos EUA, 1947–1998 417
9.14 Preços de Mercado e Preços de Produção à Taxa de Lucro Observada, Modelo de Capital Fixo, Economia dos EUA, 1947–1998 418
9.15 Resolvendo o Quebra-Cabeça da Distância entre Preço de Mercado e Preço Direto 418
9.16 Médias de Distância entre Preços de Mercado, Preços de Produção à Taxa de Lucro Observada e Preços Diretos (Modelo de Capital Fixo, Economia dos EUA, 1947–1998) 419
9.17 Mudanças nas Razões de Preços de Produção para Preços Diretos na Economia dos EUA, por Intervalo de Tempo 422
9.18 Taxas de Lucro Padrão de Capacidade Máxima, Estados Unidos, 1947–1998 423
9.19 Taxas de Lucro Máximas Reais Atuais e Padrão de Capacidade Normal, Estados Unidos, 1947–1998 423
10.1 Retornos Totais Médios Anuais (%), 1926–2010 469
10.2 Risco e Retorno no Mercado de Ações e Setor Corporativo, 1948–2011 471
11.1 Uma Situação Inicial de Vantagem Absoluta 505
11.2 Ajuste Ricardiano por Meio de Taxas de Câmbio Flexíveis 506
11.3 Ajuste Ricardiano por Meio de Mudanças nos Níveis de Preços Nacionais 506
11.4 Mudanças nas Taxas de Câmbio e Níveis de Preços Relativos, Países com Alta Inflação 527
11.5 Resultados do ECM para o Japão, 1962–2008, Variável Dependente = LRXR1JP 532
11.6 Resultados do ECM para os Estados Unidos: 1962–2008, Variável Dependente = LRXR1US 532
13.1 Efeitos de Mudanças em Variáveis Básicas na Rentabilidade e Crescimento 631
14.1 Respostas de Ajuste Completo Alternativas a um Aumento Temporário na Demanda Agregada 652
14.2 Três Abordagens para a Teoria do Desemprego 661
14.3 Efeitos da Inflação e do Crescimento da Produtividade na Curva de Phillips de Salários Nominais 671
15.1 Crescimento do PIB Nominal versus Poder de Compra Relativo 705
15.2 Resultados Econométricos do Modelo Clássico de Inflação de Handfas 713
16.1 Taxas de Crescimento de Taxas de Lucro Corporativas Normais e Participação nos Lucros 730
Apêndices
2.1.1 PIB per capita dos Quatro Países Mais Ricos e Mais Pobres (Dólares Internacionais de Geary-Khamis de 1990) 766
4.2.1 Produtividade, Produção e Coeficientes de Produção para Intensidade i = 1 773
4.2.2 Fronteira de Possibilidades de Produção e Combinações de Deslocamento em Intensidade Máxima (i = 1) 776
4.2.3 Padrões de Produção para Comprimentos e Intensidade Normalmente Sociais (i = 0,80) 777
4.2.4 Curvas de Custo e Lucro 779
6.1.1 Fluxos Físicos de Insumo-Produto, Jornada de Trabalho de 4 Horas 792
6.1.2 Fluxos Físicos de Insumo-Produto, Jornada de Trabalho de 8 Horas 792
6.3.1 Estoques Brutos, Estoques Líquidos e Rentabilidade 803
6.7.1 PIB versus PNB, Estados Unidos, 2009 829
6.7.2 Derivação do Excedente Operacional Bruto e Líquido Doméstico 829
6.7.3 ESB e ESN do Setor Empresarial (Agregado – HH – NPISH – GOV) 830
6.7.4 Efeitos dos Equivalentes Salariais Não-Corporativos nos Lucros 832
6.7.5 Contas Clássicas, Juros Líquidos Pagos pela Produção 836
6.7.6 Contas NIPA, Juros Líquidos Pagos pela Produção 838
6.7.7 Contas Clássicas, Juros Líquidos Pagos pelas Famílias 839
6.7.8 Contas NIPA, Juros Líquidos Pagos pelas Famílias 839
6.7.9 Contas Clássicas, Juros Líquidos de Produção e Famílias 840
6.7.10 Contas NIPA, Juros Líquidos de Produção e Famílias 840
6.7.11 Impacto do Equivalente Salarial e Juros Impostos nas Contas do Setor Empresarial 842
6.7.12 Precisão das Regras de Acumulação de Estoque de Capital Agregado em Cadeia, Ativo Fixo Corporativo dos EUA, 1925–2009 844
6.7.13 Diferentes Valores Iniciais em 1925, Ativo Líquido Corporativo a Custos Atuais 845
6.7.14 Saída de Regressão de Utilização de Capacidade 854
11.1.1 Japão: Correção de Erro Equivalente ao Modelo ARDL(2, 2) 878
11.1.2 Japão: Verificação da Existência de uma Relação de Longo Prazo 878
11.1.3 Japão: Diagnósticos 878
11.1.4 Estados Unidos: Correção de Erro Equivalente ao Modelo ARDL(2, 0) 879
11.1.5 Estados Unidos: Verificação da Existência de uma Relação de Longo Prazo 879
11.1.6 Estados Unidos: Diagnósticos 879
CAPÍTULO 02
I. Crescimento turbulento 56
II. Produtividade, salários reais e custos reais unitários de mão de obra 59
III. Taxa de desemprego 61
IV. Preços, inflação e ciclos do ouro 62
V. Taxa geral de lucro 65
VI. Arbitragem turbulenta 66
VII. Preços relativos 69
VIII. Convergência e divergência em escala mundial 70
IX. Resumo e Conclusões 72
VI. Arbitragem Turbulenta
A taxa de lucro é central para a acumulação, pois o lucro é o propósito fundamental do investimento capitalista, e a taxa de lucro é a medida final de seu sucesso. Como o crescimento é um aspecto intrínseco da reprodução capitalista, o novo capital está sempre fluindo para a maioria dos setores. Assim, quando as taxas de lucro setoriais são desiguais, o novo capital tende a fluir mais rapidamente para os setores nos quais a taxa de lucro é mais alta que a média, e menos rapidamente para aqueles nos quais a taxa de lucro é mais baixa. Não se trata de entrada e saída, mas sim de aceleração e desaceleração. Nos setores em aceleração, a entrada mais rápida de novo capital aumentará a oferta em relação à demanda, e reduzirá os preços e os lucros. O efeito oposto nos setores em desaceleração. Portanto, a busca por lucros maiores tende a diminuir as taxas de lucro altas e aumentar as baixas. Isso dá origem a uma tendência geral de igualação das taxas de lucro entre os setores. Uma taxa de lucro aproximadamente igualada é uma propriedade emergente: não é desejada por ninguém, mas é imposta a todos.
Várias características desse processo de arbitragem são importantes de observar. Em primeiro lugar, o movimento é contínuo, com as taxas de lucro sempre ultrapassando e ficando aquém de seus centros de gravidade em constante mudança. Nunca há um estado de equilíbrio, mas sim um balanço médio alcançado apenas através de erros perpetuamente compensados. Isso é uma arbitragem turbulenta, caracterizada por flutuações recorrentes. Em vez de uma taxa uniforme de lucro, a competição na verdade produz uma distribuição persistente em torno da média (capítulo 17). Em segundo lugar, porque esse processo é impulsionado pelo movimento de novo capital, as taxas de lucro relevantes são aquelas sobre novos investimentos. São essas taxas de lucro, e não aquelas sobre todas as gerações do capital, que esperaríamos ver igualadas entre os setores.
A Figura 2.12 retrata as taxas médias de lucro dos setores dentro da manufatura dos Estados Unidos, sendo que a linha mais espessa representa a da manufatura como um todo (capítulo 7 e apêndice 7.1). Podemos observar que a turbulência é normal para a lucratividade. É nesse cenário que as empresas tomam suas decisões sobre investimento em nova capacidade e novos métodos de produção. Uma implicação óbvia, que parece ter escapado à literatura teórica, é que todas essas decisões devem ser robustas: dado que as taxas de lucro normalmente flutuam muito de ano para ano, todo novo investimento deve incorporar uma margem substancial de erro. A competição real, e não a competição perfeita, deve, portanto, ser o ponto de partida para a análise da mudança técnica ("escolha de técnica").
Embora as taxas de lucro mostradas na figura 2.12 estejam agrupadas, muitas vezes permanecem persistentemente diferentes. A interpretação padrão desse tipo de evidência é que as diferenças se devem a alguma combinação de prêmios de risco [5] e poder de oligopólio. No entanto, o quadro muda substancialmente quando consideramos as taxas de lucro em novos investimentos, ou seja, a taxa de retorno incremental sobre o capital (figura 2.13). Isso é medido aqui como a mudança nos lucros brutos dividida pelo investimento bruto do ano anterior (Christodoulopoulos 1995, 138–140; Shaikh 1998b, 395) [6]. Torna-se então evidente que as taxas de lucro incrementais, ao contrário das médias, frequentemente "cruzam" bastante, uma vez após a outra. Isso é igualação de taxa de lucro em sua forma verdadeira: taxas incrementais que se alternam rapidamente de um nível para outro, e até mesmo de positivas para negativas - muito distante das "margens" plácidas que dominam a economia ortodoxa; e a equalização turbulenta ocorre com sobreposições e subavaliações recorrentes, bastante diferentes da igualdade "atingida e mantida" que é comumente assumida em modelos teóricos. Esses fenômenos são discutidos em detalhes no capítulo 7, seção VI.5, e suas implicações são desenvolvidas nos capítulos 7–11. Veremos que a taxa de lucro incremental desempenha um papel crucial na explicação dos movimentos dos preços de ações e títulos, e, portanto, nos movimentos das taxas de juros (capítulo 10). Mas por agora, voltamos ao seu papel mais tradicional de equalização das taxas de lucro para explicar a estrutura de longo prazo dos preços industriais relativos.
[5]: O risco é frequentemente medido pela volatilidade da taxa de retorno. Como podemos observar, isso varia entre os setores. A teoria econômica afirma que a concorrência dará origem a taxas de lucro mais altas em setores com risco intrínseco mais elevado (ver capítulo 7, tabela 7.7).
[6]: Dado que a taxa média de lucro é r = P/K, onde P = lucro e K = estoque de capital, podemos definir a taxa incremental de lucro como r = ΔP/ΔK. No entanto, essa medida requer estimativas do estoque de capital, que dependem de toda uma cadeia de suposições para as quais muitas vezes há pouca base além da conveniência (ver capítulo 6, apêndice 6.5). Portanto, é muito mais robusto definir a taxa incremental de lucro como r = ΔPG/IG(–1), onde PG = lucros brutos de depreciação e IG = investimento bruto. Tanto PG quanto IG são invariáveis ao Ajuste do Consumo de Capital necessário para distinguir a depreciação "verdadeira" (ou seja, econômica) da depreciação contábil, e às estimativas de vida útil ou taxas de depreciação verdadeiras necessárias para criar medidas do estoque de capital (Christodoulopoulos 1995; Shaikh 1998b). Deve-se observar que o Banco de Dados AMECO da Direção-Geral de Assuntos Econômicos e Financeiros da Comissão Europeia (DG ECFIN) recentemente produziu medidas da Eficiência Marginal do Capital (EMC) que seguem essencialmente o mesmo procedimento, definindo a EMC como a relação entre a mudança na produção bruta e o valor defasado do investimento passado (AMECO).
Figura 2.12 - Taxas Médias de Lucro na Manufatura dos EUA de 1960 a 1989
Figura 2.13 - Taxas Incrementais de Lucro na Manufatura dos EUA de 1960 a 1989
VII. Preços Relativos
O preço de qualquer mercadoria pode ser representado como o produto de dois elementos distintos. O primeiro desses elementos é o custo unitário do trabalho verticalmente integrado associado à produção dessa mercadoria (Sraffa 1960, apêndice A; Pasinetti 1965; Kurz e Salvadori 1995, 85, 168–169, 178). Isso é a soma dos custos unitários do trabalho da indústria que produz a mercadoria em questão, mais os custos unitários do trabalho do conjunto de indústrias que produzem os insumos (matérias-primas, etc.) dessa indústria específica, mais os custos unitários do trabalho das indústrias que produzem os insumos para as indústrias que produzem os insumos, e assim por diante. A integração vertical nesse sentido (analítico) captura o custo total do trabalho industrial para produzir uma determinada mercadoria. O segundo elemento é a razão verticalmente integrada dos lucros para os salários associados a essa mesma indústria. Isso é uma média ponderada da proporção de lucro-salário na indústria que produz a mercadoria, mais a proporção de lucro-salário no conjunto de indústrias que produzem os insumos, mais a proporção de lucro-salário no conjunto de indústrias que produzem os insumos para os insumos, e assim por diante [7].
[7]: Os pesos são as proporções do custo unitário direto do trabalho em cada estágio (analítico) em relação ao custo unitário do trabalho verticalmente integrado (capítulo 9, seção III).
Adam Smith foi o primeiro a fazer essa decomposição por meio de um argumento verbal. É bastante fácil reproduzir analiticamente (uma vez que um grande pensador já tenha mostrado o caminho). David Ricardo posteriormente usou um modo de raciocínio semelhante para argumentar que os preços relativos de quaisquer duas mercadorias seriam dominados pela proporção de seus custos unitários de trabalho verticalmente integrados. Seu limite superior para a influência do elemento restante foi de 7%. Assim, em sua estimativa, os custos unitários de trabalho verticalmente integrados relativos seriam responsáveis por pelo menos 93% da estrutura interindustrial de preços relativos. Com apenas algumas exceções notáveis (Schwartz 1961, 42–44), essa "Teoria dos 93% do Preço" tem sido muito criticada por economistas modernos por motivos teóricos.
Sempre é esclarecedor analisar as evidências empíricas reais. A Figura 2.14 exibe a relação entre os preços de mercado observados e os preços proporcionais aos custos unitários de mão de obra verticalmente integrados (preços diretos), para cada um dos setenta e um setores da tabela de insumo-produto dos Estados Unidos para 1972. O eixo vertical representa o valor de mercado da produção total de cada setor (ou seja, seu preço unitário de mercado multiplicado por sua produção total), enquanto o eixo horizontal representa o valor monetário direto correspondente das mesmas produções. Os dois conjuntos de preços são escalados para que tenham o mesmo total. Também é exibida no gráfico uma linha de 45 graus, para fins de comparação visual. De 1947 a 1998, o desvio médio absoluto dos preços de mercado observados em relação aos preços diretos é de 15,4%. No entanto, a preocupação de Ricardo era com os preços competitivos de longo prazo, não com os preços de mercado, e para a taxa de lucro real em cada ano, o desvio médio dos preços competitivos em relação aos preços diretos é de 13,2% (capítulo 9, tabelas 9.9 e 9.13). Para colocar em termos ricardianos, cerca de 87% da estrutura interindustrial de preços competitivos de longo prazo é explicada por custos unitários de mão de obra diretos e indiretos. Como frequentemente acontece, a grande maioria dos teóricos está bastante distante do alvo. Essa questão é estudada no capítulo 9, e os dados são derivados para os Estados Unidos e os países da OCDE. A preocupação central, como sempre, é explicar por que esses resultados são obtidos e extrair suas implicações para a análise dos movimentos reais de longo prazo nos preços relativos.
Figura 2.14 - Preços Totais Normalizados de Lucro da Produção versus Custos Totais Unitários de Mão de Obra, EUA 1972 (Setenta e Um Setores Industriais
VIII. Convergência e Divergência em Escala Mundial
Encerramos este capítulo com uma perspectiva global sobre o desenvolvimento econômico de longo prazo, baseada em dados da obra monumental de Maddison (2003). A Figura 2.15 acompanha as tendências do PIB real per capita de 1600 até o presente, em cinco principais regiões do mundo: Europa Ocidental, Derivados Ocidentais (Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia), América Latina (incluindo o Caribe), Ásia (tanto Oriental quanto Ocidental) e África. Como todos os dados estão em escalas logarítmicas, as inclinações das curvas representam as taxas de crescimento. Mais uma vez, vemos que o crescimento nos padrões de vida é uma característica marcante do desenvolvimento capitalista bem-sucedido. No entanto, ao mesmo tempo, em regiões que estão envolvidas nas tramas do capitalismo, como Ásia e África, encontramos estagnação e até mesmo declínio por quase três séculos. Também descobrimos que as classificações podem mudar, como no caso dos Derivados Ocidentais ultrapassando suas regiões de origem até meados do século XIX, da América Latina se distanciando das regiões mais pobres um quarto de século depois, e da Ásia superando decisivamente a África em meados do século XX.
Figura 2.15 - PIB per Capita das Regiões do Mundo em 1990, Dólares Internacionais Geary–Khamis (Escala Logarítmica)
Uma tendência histórica de aumento da desigualdade em escala mundial também é evidente. Já observamos que o desenvolvimento capitalista não é apenas uma questão de ganhos desiguais, mas ganhos para alguns ao lado de períodos prolongados de perdas para outros. Comparar o PIB per capita das regiões mais ricas e mais pobres em qualquer momento resulta em uma razão de 2,2 em 1600, 2,4 em 1700, 2,8 em 1820, 6,7 em 1900 e 18,5 em 2000. É precisamente durante a era áurea do capitalismo industrial, nos últimos dois séculos, que essa razão aumenta em 564%.
No entanto, mesmo esse aumento subestima a verdadeira divergência entre nações ricas e pobres, porque a Ásia inclui o Japão, a Coreia do Sul e diversos países ricos em petróleo, enquanto a África inclui a África do Sul, o Egito e outros. A Figura 2.16 exibe os PIBs per capita dos quatro países mais ricos e mais pobres do mundo em 1600, 1700, 1820 e a cada década subsequente (apêndice 2.1 Fontes e Métodos de Dados). Uma característica notável é a grande queda do PIB per capita dos países pobres no período pós-guerra e novamente durante a era neoliberal (após 1980). A Figura 2.17 acompanha a proporção correspondente entre ricos e pobres, que é de 2,8 em 1600, 3,4 em 1700, 3,8 em 1820, 7,1 em 1900 e 64,2 em 2000. O aumento da desigualdade é uma característica geral do capitalismo em escala mundial, e tende a acelerar com o desenvolvimento capitalista, como durante meados do século XIX e durante a era neoliberal (ver apêndice 2.1, tabela 1).
Figura 2.16 - PIB per Capita dos Quatro Países Mais Ricos e Mais Pobres, Dólares Internacionais Geary–Khamis (Escala Logarítmica)
Figura 2.17 Proporção do PIB per Capita dos Quatro Países Mais Ricos em Relação aos Quatro Países Mais Pobres, Dólares Internacionais de Geary–Khamis (Escala Logarítmica)
IX. Resumo e Conclusões
Este capítulo procurou mostrar que as economias capitalistas bem-sucedidas são caracterizadas por padrões de longo prazo poderosos. Os caminhos da produção real, do investimento e da produtividade demonstram que o crescimento e os benefícios sociais crescentes têm sido características fundamentais desse sistema. Essa é a visão distante, na qual a ordem subjacente do sistema domina a imagem. No entanto, uma análise mais detalhada desses mesmos padrões mostra que o crescimento do sistema é sempre expresso por meio de flutuações recorrentes, pontuadas por "Grandes Depressões" periódicas. Nesse momento, é a desordem, com seus custos sociais consequentes, que domina a visão. Esses dois aspectos são inseparáveis, é claro, porque nesse sistema, a ordem é alcançada por meio da colisão de desordens. É assim que a mão invisível funciona.
A mudança técnica constante, expressa na produtividade do trabalho em constante aumento, é outra característica marcante. Ela fornece a base material para a elevação histórica dos salários reais e do consumo real por trabalhador. No entanto, aqui os determinantes sociais intervêm de maneira mais aberta. Mecanismos legais e institucionais fornecem aos trabalhadores os meios de compartilhar os benefícios do crescimento na produtividade do trabalho. No entanto, uma vez que a relação entre salários reais e produtividade do trabalho define o custo real unitário do trabalho, as empresas têm um forte incentivo para resistir a aumentos salariais reais que excedam o crescimento da produtividade. A luta de forças entre esses dois conjuntos de forças às vezes pode mudar drasticamente o equilíbrio: os salários reais dos trabalhadores da indústria estão estagnados desde a década de 1980, enquanto a produtividade continua a aumentar, de modo que os custos reais unitários do trabalho têm caído acentuadamente por duas décadas. O alto desemprego dos anos 1980 e o ataque às instituições trabalhistas enfraqueceram a capacidade do trabalho de lutar por ganhos salariais, enquanto a maior exposição da indústria manufatureira dos EUA à concorrência estrangeira intensificou muito seu desejo por reduções de custos. As instituições importam, mas sempre operam dentro dos limites fornecidos pela competição e acumulação.
O capítulo também investigou a curiosa história dos níveis de preços do Reino Unido e dos Estados Unidos. Por séculos, os preços apresentaram oscilações prolongadas sem uma tendência de longo prazo. No Reino Unido, por exemplo, o índice de nível de preços em 1940 era o mesmo que em 1720. Nesse intervalo, "ondas longas" nos preços dominavam a imagem, mas não havia uma tendência geral. No entanto, ao longo do período pós-guerra no mundo capitalista, o padrão mudou drasticamente. Os preços começaram a subir continuamente, e a inflação passou a parecer natural. As ondas longas parecem ter desaparecido. Ou será que não? Expressar os níveis de preços nacionais em termos de um padrão internacional comum (ouro) em vez de suas próprias moedas nacionais revela uma imagem surpreendente de "ondas longas douradas" que continuam até os dias atuais. De fato, a crise econômica que eclodiu em 2007, a primeira Grande Depressão do século XXI, ocorreu exatamente conforme o previsto. Suas origens e dinâmicas globais são abordadas em detalhes no capítulo 16.
A consideração da lucratividade levou a outro conjunto de questões. A taxa de lucro geral nos Estados Unidos caiu acentuadamente de 1947 a 1982 e, em seguida, se recuperou apenas parcialmente. Isso levantou a questão de como o investimento está ligado à lucratividade, o que, por sua vez, nos levou a distinguir entre taxas médias e incrementais de lucro. Argumentou-se que apenas as últimas são relevantes para o novo capital (ou seja, para o investimento). Como tal, apenas elas devem ser equalizadas pela mobilidade do (novo) capital entre os setores. Um exame das taxas médias e incrementais de retorno entre os setores na indústria manufatureira dos EUA revelou exatamente isso: as taxas médias permaneceram em grande parte distintas, mas as taxas incrementais "cruzaram" muitas vezes.
As taxas relativas de retorno também desempenham um papel na determinação dos preços competitivos de longo prazo. Dentro da tradição clássica, esse papel é menor, uma vez que se espera que a maior parte da estrutura dos preços industriais relativos seja dominada pelos custos relativos diretos e indiretos (verticalmente integrados) do trabalho unitário. Ricardo estimou que a lucratividade relativa representaria não mais do que 7% das variações nos preços relativos, deixando o restante para os custos reais do trabalho unitário. Essa "teoria dos 93%" do preço relativo foi há muito ridicularizada por quase todos os teóricos. No entanto, a evidência empírica fala com uma voz diferente: para os setenta e um setores dos EUA de 1947 a 1998, o desvio médio absoluto dos preços competitivos de longo prazo em relação aos custos unitários do trabalho verticalmente integrados é de 13,2%, o que não está muito distante da estimativa de Ricardo.
O capítulo terminou com uma perspectiva global que abrange mais de três séculos. Vimos que o capitalismo na Europa Ocidental e nos Derivados Ocidentais (Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia) criou padrões de vida crescentes dentro dessas regiões. Ao mesmo tempo, suas possessões coloniais na Ásia e na África estagnaram e até mesmo declinaram durante a maior parte desse tempo. Um exame dos PIBs reais per capita relativos das regiões mais ricas e mais pobres revela uma desigualdade crescente de forma constante em um mundo envolvido na teia capitalista.
O mundo que herdamos é o produto dessa história. O PIB per capita anual dos países mais ricos é superior a \$30.000, enquanto o dos países mais pobres é inferior a \$1.000. Mas até mesmo essa última magnitude é enganosa, porque a distribuição de renda nos países mais pobres é terrivelmente desigual. De acordo com estimativas do Banco Mundial, no início da crise global em 2008, quase metade da população mundial de 2,1 bilhões de pessoas vivia com menos de US\$2 por dia e 880 milhões com menos de US\$1 por dia (Banco 2008). O grande debate da época é se essas deficiências devem ser remediadas canalizando e limitando o capitalismo ou acelerando sua disseminação pelo mundo. Este livro concentra-se na análise econômica dos países avançados como base para a análise adicional do desenvolvimento e subdesenvolvimento globais. Os padrões mostrados neste capítulo, e outros ainda a serem elucidados, estão profundamente enraizados nesse sistema. Intervenções sociais e econômicas têm sua voz dentro dos limites prescritos por esses processos. A tarefa teórica é mostrar como eles estão interligados.
CAPÍTULO 03
I. Introdução
O capítulo anterior demonstrou que economias capitalistas bem-sucedidas são caracterizadas por alguns padrões de longo prazo poderosos nos quais ordem e desordem aparecem de mãos dadas. Isso imediatamente levanta duas questões metodológicas fundamentais. Primeiro, uma vez que o capitalismo é um sistema social dinâmico cujas culturas, instituições e políticas mudam substancialmente a longo prazo, como é possível que as interações contínuas de sucessivas gerações de milhões de indivíduos possam gerar padrões recorrentes estáveis? E se respondermos com sucesso à primeira pergunta, então surge imediatamente uma segunda: Quais noções teóricas de equilíbrio, processo de ajuste e dinâmica são apropriadas para os tipos de padrões turbulentos que de fato encontramos?
A primeira pergunta nos leva à relação entre processos micro e padrões macro. A microeconomia é importante porque os agentes individuais fazem escolhas, e as escolhas têm consequências pessoais e sociais. Os incentivos importam e afetam as escolhas individuais. No entanto, não segue que a tomada de decisão individual seja caracterizada pelas regras da chamada escolha racional e expectativas racionais ou pelos incentivos redutivos que ela incorpora (ou seja, de comportamento hiper-racional). Nem segue que os agregados possam ser analisados em termos de agentes representativos. Veremos que as evidências históricas, empíricas e analíticas contra o comportamento hiper-racional e os agentes representativos são esmagadoras. Além disso, uma explicação das principais descobertas empíricas pode ser derivada de uma ampla gama de modos de tomada de decisão individual, pois estruturas moldadoras, como restrições orçamentárias e influências sociais, desempenham papéis decisivos na produção de padrões agregados. As construções tradicionais não são nem sustentáveis nem necessárias.
Uma vez compreendido que tipos muito diferentes de fundamentos micro podem dar origem aos mesmos padrões em nível de mercado ou em toda a economia, podemos dividir a microeconomia em dois tipos de proposições: (1) proposições empiricamente fundamentadas que podem ser derivadas de uma ampla variedade de fundamentos micro: curvas de demanda inclinadas para baixo, elasticidades de renda diferenciadas para bens necessários, funções de consumo impulsionadas pela renda, e assim por diante; e (2) proposições que dependem da caracterização específica do comportamento individual: onde o fundamento assumido é a escolha racional (esse último conjunto inclui os teoremas usuais sobre a eficiência, harmonia e otimalidade geral dos processos de mercado). A vantagem de proceder dessa maneira é que ela expande consideravelmente o espaço para as possíveis caracterizações do comportamento econômico individual, mantendo padrões microeconômicos-chave que desempenham um papel importante na análise econômica.
Nada disso implica que os processos micro sejam irrelevantes. Pelo contrário, eles desempenham um papel central na determinação dos caminhos individuais e na avaliação das implicações sociais dos resultados macro. Além disso, eles podem se tornar decisivos em nível agregado se as pessoas escolherem agir em conjunto, como no caso de uma paralisação geral do trabalho, um boicote do consumidor ou um protesto em massa. A agência está sempre presente, nas decisões individuais e às vezes nas coletivas. Portanto, precisamos entender como os agentes individuais realmente se comportam, como eles reagem às mudanças no ambiente macro e até que ponto o ambiente, por sua vez, é afetado.
Duas conclusões podem ser derivadas neste ponto. Primeiro, que uma correspondência com os fatos empíricos agregados não privilegia nenhuma visão particular de processos micro: muitos caminhos levam a resultados semelhantes. E segundo, ao examinarmos como os indivíduos realmente se comportam, a hipótese do modelo homo economicus é terrivelmente insatisfatória.
Vale notar que a divisão atual da teoria econômica em micro e macro é relativamente nova. A teoria clássica geralmente começava com a teoria do preço, que fornecia a base para a análise do crescimento, emprego e comércio exterior. Foi Keynes quem primeiro sugeriu a partição moderna entre a análise do comportamento dos agentes individuais e a análise das agregações econômicas (Janssen 1993, 5). Nas mãos de Keynes, as agregações operam por regras diferentes das dos resultados individuais. Veremos que Kalecki e Friedman fazem a mesma distinção (ver seção IV deste capítulo).
Lucas adotou uma abordagem completamente oposta: a macro deve ser dissolvida na micro. A crítica lucasiana resultante à macroeconomia do tipo keynesiano incorporava quatro proposições. A estrutura é dita emergir das regras de decisão individuais do agente. Uma mudança no ambiente (por exemplo, em política) alterará o comportamento individual e, portanto, modificará a estrutura. Portanto, modelos baseados em padrões passados não podem ser usados para prever os efeitos de mudanças potenciais no ambiente, porque a própria estrutura será diferente. Isso leva à conclusão de que o comportamento micro rege os resultados macro (Salehnejad 2009, 22-25). A conclusão central de Lucas foi que, se a integração da macro na micro fosse feita adequadamente, "o termo 'macroeconômico' simplesmente desaparecerá do uso e o modificador 'micro' se tornará supérfluo. Simplesmente falaremos... da teoria econômica" (Lucas 1987, 107-108).
O projeto moderno das fundações micro neoclássicas baseia-se nesse fundamento geral, adicionando cinco reivindicações adicionais.
• Assume-se que os agentes individuais maximizam utilidade ou lucros esperados.
• Suas expectativas são essencialmente corretas em equilíbrio.
• O equilíbrio é assumido como obtido na prática.
• O comportamento coletivo de um tipo particular de agente pode ser modelado em termos de um único agente representativo com comportamento racional e expectativas racionais.
• E apenas a macroeconomia derivada da microeconomia dessa maneira pode ser considerada rigorosa.
Entendeu-se que essa abordagem particular para a economia ainda precisava ser consistente com as leis empíricas agregadas da microeconomia, como os efeitos de preço e renda na demanda, bem como com os padrões macroeconômicos observados em produção, consumo e investimento. Curiosamente, essa abordagem não sentiu a necessidade de imitar os padrões empíricos nos comportamentos individuais. Nesse nível, a suposição de um comportamento hiper-racional individual é sempre o ponto de partida (capítulo 12).
A primeira parte deste capítulo aborda as questões relevantes: escolha racional, teoria da complexidade e propriedades "emergentes" de agregados (sendo esta última uma expressão moderna da antiga noção de que um todo pode ser maior do que a soma de suas partes). Argumenta-se que não há razão para se prender ao modelo padrão de comportamento hiper-racional, que não é descritivo do comportamento real nem útil como padrão normativo. A caracterização dos resultados agregados por meio de um "agente representativo" não funciona, exceto em casos triviais. A verdadeira função da noção de um agente representativo hiper-racional é servir à declaração de missão da economia neoclássica, que é retratar o capitalismo como eficiente e ótimo. Nesse sentido, é perfeitamente instrumental. Finalmente, é demonstrado que padrões agregados estáveis surgem das estruturas moldadoras subjacentes (restrições orçamentárias e distribuições de renda), não dos detalhes dos comportamentos individuais. A título de ilustração, mostro que os principais padrões empíricos da teoria do consumidor (curvas de demanda inclinadas para baixo, curvas Engel para bens necessários e luxos, e funções de consumo agregado) e da teoria da produção (funções de produção agregada) podem ser derivados de uma variedade de diferentes fundamentos micro. Um tratamento semelhante dos salários reais é abordado no capítulo 14. Em circunstâncias normais, os resultados macro são "robustamente insensíveis" aos detalhes dos processos micro. Isso não significa que os processos micro sejam irrelevantes. Os fatores micro entram em jogo na determinação dos caminhos individuais, podem se tornar decisivos se as pessoas escolherem agir em conjunto para (por exemplo) realizar uma paralisação geral do trabalho ou um boicote do consumidor, e são particularmente importantes para avaliar as implicações sociais dos resultados macro. Tudo o que isso implica é que uma correspondência com os fatos empíricos agregados não privilegia nenhuma visão particular dos processos micro. Se alguém deseja examinar se o homo economicus é um bom modelo de comportamento humano real, é preciso olhar para a correspondência dele com o comportamento individual real. E aí, a evidência é devastadoramente negativa.
A segunda pergunta suscitada pela consideração dos padrões empíricos reais nos leva à distinção crucial entre o conceito convencional de equilíbrio como um estado alcançado e o conceito clássico de equilíbrio como um processo gravitacional. Na primeira noção, o tempo e a turbulência desaparecem da visão e o foco muda para estados de equilíbrio e trajetórias constantes. Na segunda, o equilíbrio exato nunca existe como tal porque o processo de equilibração é inerentemente cíclico e turbulento. A consideração de vários tipos de atratores estáveis e seu comportamento sob choques recorrentes mostra que a gravitação turbulenta é o caso geral. O centro de gravidade, o caminho de equilíbrio, é considerado em seguida, e é mostrado que o crescimento turbulento em variáveis primárias pode ser acomodado expressando um sistema dinâmico em termos das razões das variáveis, ou pelo menos de suas taxas de crescimento. Finalmente, as dimensões de tempo envolvidas nos processos de gravitação turbulenta são consideradas, abrangendo desde a equalização das taxas de lucro até a demanda e oferta agregadas nos mercados financeiros, de commodities e de trabalho. São estabelecidas ligações entre esses processos e vários ciclos econômicos, e uma tipologia geral de velocidades de ajuste é proposta.
II. PROCESSOS MICRO E PADRÕES MACRO
Nas ciências sociais, estamos sofrendo de um curioso transtorno mental... as doutrinas ortodoxas da economia, política e direito repousam sobre uma suposição tácita de que o comportamento humano é dominado pelo cálculo racional... [mesmo que] essa seja uma suposição contrária aos fatos. (Mitchell 1918, 161).
1. Representando o comportamento humano individual
Há uma grande diferença entre estudar como as pessoas realmente se comportam e postular como elas deveriam se comportar. Quando desejamos saber como e por que as pessoas se comportam como o fazem, voltamos-nos para a economia comportamental, antropologia, psicologia, sociologia, ciência política, neurobiologia, estudos de negócios e teoria evolutiva. Descobrimos que raízes evolutivas, heranças culturais, estruturas hierárquicas e histórias pessoais influenciam nosso comportamento: somos seres socialmente construídos, dentro dos limites de nossa herança evolutiva (Angier 2002; Zafirovski 2003, 1, 6–8; Ariely 2008, capítulos 4–5, 9). Há um grande corpo de evidências que mostra que não ordenamos consistentemente nossas preferências, somos maus juízes de probabilidades, não abordamos o risco de maneira "racional", cometemos regularmente uma ampla variedade de erros de raciocínio e geralmente baseamos nosso comportamento em hábitos e regras práticas (Simon 1956, 129; Conlisk 1996, 670–672; Anderson 2000, 173; Agarwal e Vercelli 2005, 2). No final das contas, não somos "nobre no raciocínio, não infinitos em faculdade" [1]. Pelo contrário, somos "bastante fracos na apreensão... [e sujeitos a] forças que em grande parte falhamos em compreender" (Ariely 2008, 232, 243). E, como qualquer publicitário poderia nos dizer, nossas preferências são facilmente manipuladas, nossas respostas bastante previsíveis.
[Nota 1]: Hamlet: "Que obra é o homem! quão nobre no raciocínio! quão infinito nas faculdades!" Hamlet, II.2.319, citado em Conlisk (1996, 669).
Apesar de toda essa evidência, a economia neoclássica insiste teimosamente em retratar os indivíduos como máquinas egoístas de cálculo, nobres no raciocínio, infinitos em faculdades e em grande parte imunes a influências externas. A introdução de risco, incerteza e custos de informação altera as restrições enfrentadas, mas não o modelo básico de comportamento (Furnam e Lewis 1986, 10). Chamarei isso de doutrina da "hiper-racionalidade" para distinguir da noção mais geral de "racionalidade", que se refere à crença ou princípio de que ações e opiniões devem ser baseadas na razão. O ponto aqui é evitar o hábito neoclássico de retratar a hiper-racionalidade como perfeita e o comportamento real como imperfeito [2]. É de fato um mundo de cabeça para baixo quando tudo o que é real é considerado irracional.
[Nota 2]: Por exemplo, em sua excelente exposição das complexidades do comportamento real, Ariely (2008, xix–xx) se refere especificamente às noções neoclássicas de "racionalidade" (ou seja, hiper-racionalidade) como "suposições sobre nossa capacidade de razão perfeita" e rotula o comportamento real como "irracional... [devido] à nossa distância da perfeição".
A questão não é se os incentivos econômicos importam, mas sim como eles importam. Os incentivos econômicos certamente influenciam as escolhas individuais e os resultados sociais. No entanto, também influenciam as oportunidades econômicas e uma variedade de motivações e limitações não econômicas. O problema em questão é: por que a economia neoclássica insiste em uma representação extremamente reducionista do comportamento humano individual? Há duas dimensões que precisam ser abordadas: (1) a hiper-racionalidade como um modelo de comportamento real; e (2) a hiper-racionalidade como um ideal comportamental.
No primeiro aspecto, a hiper-racionalidade desempenha um papel instrumental na descrição do capitalismo como o sistema social ideal, porque (entre outras coisas) essa representação exige que todos os indivíduos saibam exatamente o que desejam e obtenham exatamente o que escolhem. Essa necessidade imanente impulsiona várias tentativas de justificar sua dependência de tais suposições. Há a afirmação ptolemaica de que devemos aderir às suposições de hiper-racionalidade porque é isso que os economistas (reais) fazem. Há a alegação empírica de que é uma boa aproximação de como as pessoas realmente se comportam, alegação que sofre apenas do pequeno defeito de exigir que seus defensores então enfrentem a "montanha" de evidências contrárias (Conlisk 1996, 670). Há o argumento baseado em conveniência de que a hiper-racionalidade fornece resultados analiticamente tratáveis, o que, como observa Kirman (1992, 134), "corresponde ao comportamento de uma pessoa que, tendo deixado suas chaves em um lugar escuro, escolhe procurá-las sob a luz da rua, já que é mais fácil ver lá!" No extremo oposto, há o argumento de Friedman (F-twist) de que, uma vez que a hiper-racionalidade produz bons resultados empíricos, qualquer crítica à sua suposição não é relevante (Samuelson 1963, 232). O problema com a hipótese de Friedman é que um conjunto dado de suposições contém implicações empíricas além daquelas que qualquer usuário específico escolheu investigar, e pelo menos dentro das regras do discurso científico, outros usuários estão livres para explorar outros caminhos. De fato, diferentes conjuntos de suposições frequentemente levam a um conjunto comum de previsões empíricas, de modo que a única maneira de distinguir entre os modelos é expandir o alcance empírico até que suas previsões se diferenciem. Ao fazê-lo, são precisamente as suposições que importam. Vamos abordar esse ponto na próxima seção.
[Nota 3]: "Há agora uma longa e bastante imponente linha de economistas... que buscaram mostrar que uma economia descentralizada motivada pelo interesse próprio seria compatível com uma disposição coerente de recursos econômicos que poderia ser considerada superior... a uma grande classe de disposições alternativas possíveis" (Arrow e Hahn 1971, vi–vii, citado em Sen 1977, 321–322). Da mesma forma, Samuelson (1963, 233) observa que a defesa da hiper-racionalidade por parte de Friedman é motivada pelo desejo "de ajudar o caso do (1) modelo de laissez-faire perfeitamente competitivo da economia, que tem sido continuamente atacado de fora da profissão há um século e de dentro desde a revolução da competição monopolística há trinta anos; e (2), mas de menor importância, a hipótese da 'maximização do lucro', aquela mistura de truísmo, verdade e não verdade."
[Nota 4]: A afirmação de que a hiper-racionalidade é uma boa aproximação ao comportamento real, pelo menos no domínio das transações econômicas, pressupõe que as pessoas "aprendem ótimos através da prática" (Conlisk 1996, 683). Isso supõe que as pessoas desejam se comportar de maneira hiper-racional (o que é precisamente o que está em disputa) ou que de alguma forma são punidas se não o fizerem (o argumento de sobrevivência). Este último dificilmente se aplica ao comportamento do consumidor, pois "raramente lemos nas páginas de obituário que as pessoas morrem de subotimização" (Conlisk 1996, 684). E na medida em que o mercado elimina gerentes ou proprietários de empresas menos bem-sucedidos, isso dificilmente implica que a hiper-racionalidade e a concorrência perfeita fornecem bons modelos para o comportamento das empresas sobreviventes. Esse problema é discutido mais detalhadamente no final deste capítulo.
Também existe a afirmação de que é "possível definir os interesses de uma pessoa de tal maneira que não importa o que ela faça, ela possa ser vista como promovendo seus próprios interesses" (Sen 1977, 322). Problemas surgem imediatamente se essa proposição for levada a sério. Por exemplo, se você obtém satisfação com o bem-estar de outras pessoas, alguém poderia argumentar que você é tão egoísta quanto alguém que não se importa com os outros. Isso se aplica igualmente bem se você sente prazer com a dor dos outros (esta última sendo, afinal, bem-estar negativo "apenas"). Nessa escala patológica, o narcisista, o samaritano e o psicopata são tratados como sendo fundamentalmente iguais. Mesmo assim, apenas o caso do narcisismo "funciona" adequadamente para a economia ortodoxa: as interações entre os indivíduos implicadas nos outros dois geralmente criam "externalidades", e essas precisam ser excluídas nos modelos padrão de equilíbrio geral porque minam a descrição do capitalismo como o sistema social ideal (Sen 1977, 328).
A teoria da preferência revelada é uma versão operacional desta mesma hipótese de "egoísmo definicional" (Sen 1977, 323), [6] e sua tentativa de atribuir motivação hiper-racional ao comportamento real leva a dificuldades bem conhecidas. No mínimo, essa hipótese exige que o comportamento individual exiba padrões específicos para justificar pelo menos a atribuição de hiper-racionalidade [7]. Se uma pessoa escolhe x em vez de y e y em vez de z, mas também z em vez de x, tal comportamento contradiz a noção de hiper-racionalidade e é considerado irracional. O mesmo acontece com a escolha de x em vez de y em um contexto e y em vez de x em outro. Se tais mudanças de classificação ocorrerem ao longo do tempo uma ou duas vezes, alguém poderia tentar salvar a teoria assumindo que os "gostos" da pessoa mudaram no intervalo. Mas isso é um território perigoso, já que a estabilidade da estrutura de preferências é um atributo essencial da doutrina convencional, e os gostos não podem ser permitidos a mudar com muita frequência. [8] Capricho é definitivamente proibido. Um problema ainda mais profundo é que todos esses esforços para atribuir motivações específicas ao comportamento humano não levam em conta uma importante fonte de informação, que é a explicação que as pessoas dão de suas próprias motivações (Sen 1977, 322–323, 325, 335–336, 342–343). Para deixar de lado tais informações, é preciso afirmar que as pessoas sabem exatamente o que desejam e o que podem obter, mas de alguma forma não sabem o que sabem. Isso impõe certa tensão lógica a todo o argumento. Binmore (2007, 2) nos diz que "mesmo quando as pessoas não pensaram em tudo com antecedência, não se segue que elas estejam necessariamente se comportando de maneira irracional." Ele continua argumentando que até "animais sem mente" como "aranhas e peixes" podem "acabar se comportando como se fossem racionais" porque a evolução os programou para fazê-lo. Isso estabelece, de qualquer forma, que o que a ortodoxia entende por "comportamento racional" é simplesmente qualquer comportamento em que alguns resultados possam ser imitados por um modelo de comportamento racional. Pode-se facilmente imaginar comportamentos de peixes e aranhas cujos resultados os economistas ortodoxos não reivindicariam como próprios.
[6]: Chai (2005, 8–11) chama isso de dimensão "interpretativa" da abordagem da escolha racional, mas pelo menos na economia, isso tem sido em grande parte um método de defesa.
[7]: Desnecessário dizer que a consistência das escolhas não implica que as motivações subjacentes sejam de fato hiper-racionais, já que um "escolhedor consistente pode ter qualquer grau de egoísmo que quisermos especificar" (Sen 1977, 326).
[8]: De fato, Stigler e Becker (1990, 192) argumentam especificamente que se deve proceder considerando os gostos como inalterados e iguais entre indivíduos, e buscar em vez disso "as formas sutis que os preços e rendas assumem na explicação das diferenças entre homens e períodos".
A teoria dos jogos é feita do mesmo material. Sua suposta força é que ela permite interações estratégicas entre agentes hiper-racionais e auto-interessados. [9] Como as interações potenciais requerem considerações estratégicas, as expectativas dos jogadores desempenham um papel crucial (Hargreaves Heap e Varoufakis 1995, 24–25). Infelizmente, essas expectativas são modeladas de maneira completamente egoísta: os jogadores são assumidos como detentores de um regresso infinito de crenças totalmente corretas em que "Alice [corretamente] pensa que Bob pensa que Alice pensa que Bob pensa..." [10] ou convenientemente assumem chegar aos mesmos resultados por meio de "algum processo de ajuste" (Binmore 2007, 14–16). Não surpreendentemente, a teoria dos jogos tem sido contradita pelas evidências empíricas desde o início (Hargreaves Heap e Varoufakis 1995, 240). No entanto, ela conseguiu exercer grande influência nas ciências sociais, até se apresentando como "um quadro no qual se pode discutir realisticamente o que é ou não é possível para uma sociedade" (Binmore 2007, 65). Uma das características mais marcantes da teoria dos jogos é sua dependência da utilidade cardinal. A teoria dos jogos gira em torno da suposição de que cada jogador valoriza os resultados em termos de pagamentos específicos: esses pagamentos são medidos em "utils" (Hargreaves Heap e Varoufakis 1995, 5, 9, 66) ou em termos de dinheiro que cada pessoa valoriza implicitamente da mesma maneira. Ambas essas suposições requerem utilidade cardinal, e a segunda requer utilidade cardinal idêntica (Hargreaves Heap e Varoufakis 5, 9, 66). [11] No último caso, a utilidade até é comparável entre indivíduos, o que a torna equivalente à versão de utilidade cardinal que foi banida da doutrina econômica ortodoxa no início do século XX devido à sua associação com argumentos em favor de uma distribuição igual de renda (Strotz 1953, 384–385, 396; Hutchinson 1966, 283, 303; Black 1990, 778).
[9]: Kreps (1990, 41) diz que "os grandes sucessos da teoria dos jogos na economia surgiram em grande parte porque a teoria dos jogos nos fornece uma linguagem para modelar e técnicas para analisar interações competitivas dinâmicas específicas". Claro, a linguagem em questão é apenas um dialeto da hiper-racionalidade.
[10]: A noção de Conhecimento Comum da Racionalidade (CCR) incorpora a suposição de que cada jogador é racional instrumentalmente (ou seja, hiper-racional), acredita que todos os outros também são, e acredita que eles acreditam que ele é, e assim por diante. A noção de Alinhamento Consistente de Crenças (ACC) postula ainda que todas essas crenças são consistentes, no sentido de que se dois indivíduos hiper-racionais têm a mesma informação, eles devem tirar as mesmas inferências e chegar à mesma conclusão. Aumann assume que indivíduos hiper-racionais chegarão a ter a mesma informação (ou seja, passarão de CCR para ACC) (Hargreaves Heap e Varoufakis 1995, 24–28).
[11]: Strotz (1953) observa que von Neumann e Morgenstern propõem uma fórmula particular para criar uma média ponderada de escolhas arriscadas que nos permite classificar conjuntos de escolhas. Essa classificação é a "expectativa moral" original de Bernoulli. Como acontece com as funções de utilidade ordinal padrão, qualquer função que pudesse fornecer as mesmas classificações ditadas pela fórmula acima serviria igualmente bem. O conteúdo de tal função também pode ser expresso como um conjunto de axiomas comportamentais de escolha racional na presença de risco. Strotz admite que as pessoas podem não se comportar dessa maneira na prática e observa que evidências experimentais sugerem que o comportamento real é melhor representado de outra maneira. Mas, de qualquer forma, a grande vantagem dessa nova forma de utilidade cardinal é que ela geralmente não é comparável entre pessoas e, portanto, não ameaça uma ressurreição da economia do bem-estar utilitário.
6. CAPITAL E LUCRO
I. INTRODUÇÃO
II. AS DUAS FONTES DE LUCRO AGREGADO
III. PRODUÇÃO, TEMPO DE TRABALHO E LUCRO
- Nenhum lucro agregado sem trabalho excedente
- Lucros positivos requerem trabalho excedente
- Regra geral para medir lucros econômicos reais
- O enigma dos efeitos dos preços relativos sobre o lucro agregado
IV. LUCROS AGREGADOS E TRANSFERÊNCIAS DE VALOR: UMA SOLUÇÃO GERAL PARA O UNIVERSAL "PROBLEMA DA TRANSFORMAÇÃO"
- Transferências de valor por meio de mudanças nos preços relativos
- A influência das proporções de produção sobre as transferências de valor e o lucro agregado
V. LUCROS FINANCEIROS E LUCRO-NA-TRANSFERÊNCIA
VI. TEORIAS DO LUCRO AGREGADO EM DIFERENTES ESCOLAS
VII. REVISÃO CRÍTICA DA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS DOS PREÇOS RELATIVOS SOBRE O LUCRO AGREGADO
VIII. MEDIÇÃO DO LUCRO E CAPITAL
CAPÍTULO 06 - CAPITAL E LUCRO
Vendas sem lucros são sem sentido. (Braham 2001)
I. INTRODUÇÃO
O lucro impulsiona o capitalismo. Se o lucro falha, a empresa entra em choque e seu capital começa a atrofiar. A teoria econômica e o sentimento empresarial estão em completo acordo sobre este ponto. O que, então, é o capital?
O capital é uma coisa usada no processo de obtenção de lucro. Como Keynes observa com aprovação, a noção de Marx do circuito do capital M–C–M' fornece um método particularmente útil para identificar o capital (Marx 1977, cap. 4; Ishikura 2004, 84–85). O dinheiro (M) é investido em mercadorias (C) representando força de trabalho, matérias-primas, instalações e equipamentos com a intenção de recuperar mais dinheiro (M'). Cada estágio do processo representa uma forma particular de capital durante o circuito: o capital inicial em dinheiro é transformado em capital mercantil, que é então vendido para obter o capital final em dinheiro. As mercadorias intermediárias (C) funcionam como capital porque são empregadas como tal, para ajudar a produzir bens, vendê-los ou negociar dinheiro, tudo com o objetivo de ganhar mais dinheiro. Em todos os casos, o lucro é o resultado final: M' deve ser maior que M se a operação for considerada bem-sucedida. O circuito de receita C–M–C é diferente. Por exemplo, um empregado começa com força de trabalho (C), que ele aluga por um salário correspondente em dinheiro (M), e então usa esse dinheiro para comprar bens de consumo e ativos financeiros (C). Em um circuito de capital (M–C–M'), o dinheiro inicialmente investido retorna como mais dinheiro para o investidor. Em um circuito de receita (C–M–C), o dinheiro é gasto e se afasta do gastador (Marx 1967a, cap. 4). Os dois circuitos interagem, uma vez que os salários recebidos pelos empregados fazem parte das despesas de capital das empresas, enquanto os bens de consumo e ativos financeiros comprados pelos empregados são parte das vendas motivadas pelo lucro das empresas (veja o apêndice 4.1) [1].
[1]: Marx (1967a, 151–152) extrai uma implicação adicional da diferença entre o circuito de receita (C–M–C) e o circuito de capital (M–C–M'), que é que “poupança” tem um propósito diferente em cada um. No circuito de receita, que se aplica às despesas domésticas, a poupança é um meio de expandir reservas de ativos financeiros. Este é o aspecto que as teorias neoclássicas e keynesianas enfatizam, destacando que a decisão doméstica de poupar é independente da decisão empresarial de investir. Mas no circuito de capital, que se aplica às operações empresariais, a poupança é um meio de expandir o capital. Nesse caso, a poupança empresarial não pode ser independente do investimento empresarial. Veremos no capítulo 13 que essa diferença se torna muito importante para a teoria clássica do crescimento.
Portanto, não são as qualidades da coisa, mas sim o processo no qual ela opera que a transforma em capital. Distinções semelhantes são familiares em outros domínios. Uma faca na cozinha é uma ferramenta de culinária. Empunhada em um acesso de fúria assassina, é uma arma mortal. É a intenção que define sua função. Da mesma forma, o dinheiro gasto para consumo pessoal é diferente do dinheiro investido como capital, mesmo que o objeto comprado seja o mesmo: comprar frutas para comer é diferente de comprar frutas para vender com lucro. No primeiro caso, tanto o dinheiro quanto as frutas fazem parte de um circuito de receita; no segundo, ambos fazem parte de um circuito de capital. Para o propósito do consumo, o gosto da fruta pode ser primordial, enquanto para o capital, é a lucratividade da fruta que é central e seu gosto apenas um meio para esse fim. Dessa diferença aparentemente pequena surge um conjunto inteiro de mercadorias cujos benefícios putativos podem conter núcleos tóxicos. O ganho privado não é o mesmo que o benefício social, apesar das tentativas diligentes da economia neoclássica de confundir os dois [2].
[2]: O truque característico na economia neoclássica é começar assumindo todas as contradições entre ganho privado e benefício social, e então, após todo o aparato ter sido laboriosamente construído sobre essa base, admitir certas discrepâncias sob a rubrica de “externalidades.” Por exemplo, no livro de microeconomia "altamente elogiado e amplamente adotado" de Varian (Varian 1993, citação da capa), a noção de externalidades aparece apenas no final do livro, no trigésimo primeiro dos trinta e quatro capítulos do texto.
Observamos no capítulo 4 que o processo de trabalho, o processo de produção de bens e serviços nacionais, é eminentemente social. E no capítulo 5 vimos que o preço de uma mercadoria é a expressão monetária do seu valor quantitativo, sendo tanto o preço quanto o dinheiro construções sociais. As relações capitalistas adicionam outra dimensão, pois, sob o domínio do capital, tanto o processo de trabalho quanto o preço da mercadoria tornam-se meios de realizar um lucro. No processo de trabalho, isso gera o impulso para estender a duração e a intensidade da jornada de trabalho até seus limites sociais e para remodelar constantemente a produção de acordo com linhas cada vez mais "racionais" do ponto de vista do capital. Essa compulsão é a fonte do papel historicamente revolucionário do capitalismo em elevar a produtividade do trabalho a grandes alturas, através da rotinização da produção, da redução das atividades humanas a operações repetitivas e automáticas, e da contínua substituição desse trabalho humano agora semelhante a uma máquina por máquinas reais. Enquanto a ferramenta é um instrumento de trabalho em modos anteriores de produção, é o trabalhador quem se torna um instrumento da máquina na produção capitalista. A Revolução Industrial é a consequência, não a precursora, das relações capitalistas de produção (Marx 1967a, pts. III–IV).
Nem toda atividade laboral ou meio de produção funciona como capital. Um mecânico autônomo pode usar ferramentas para ganhar a vida, usar sua renda para adquirir e mobiliar uma casa, e trabalhar para se formar na faculdade e aprimorar suas habilidades. Suas ferramentas e seus móveis são parte de sua riqueza, e sua educação é parte de suas habilidades. Nenhum desses é capital. Mas se ele trabalhar em vez disso como empregado em uma oficina de reparos, ele trabalha para gerar lucro para seu chefe. Então, seu salário (cujo nível está parcialmente relacionado às suas habilidades) e as ferramentas e maquinário com os quais trabalha são parte do capital dele.
O capital não é definido pela sua durabilidade. Dentro da categoria do capital em si, a distinção entre capital circulante e fixo depende da relação de um item específico com o ciclo de produção no qual ele opera, e não da duração de sua vida econômica com respeito a algum período temporal arbitrário, como um ano. Assim, um molde de argila é capital circulante se ele se desgastar no processo de produção, enquanto moldes de plástico e aço são capital fixo se puderem ser usados em mais de um ciclo de produção. No entanto, um molde de plástico pode não durar mais do que (digamos) seis meses de ciclos de produção, enquanto um molde de aço pode durar vários anos. Se tomássemos um mês como o período de referência, tanto moldes de plástico quanto de aço seriam classificados como duráveis; se tomássemos um ano, apenas o segundo seria classificado como durável; e com uma década como o período de referência, todos os três moldes seriam classificados como perecíveis. Nada disso mudaria o fato de que moldes de argila permanecem capital circulante e moldes de plástico e aço são capital fixo ao longo do tempo. A distinção é funcional, não temporal (Shaikh e Tonak 1994, 13–17). Em uma economia capitalista, o estoque de capital não financeiro inclui ativos empresariais como estoques, instalações e equipamentos. O estoque não financeiro de riqueza, por outro lado, inclui terras, recursos nacionais e edifícios governamentais, e equipamentos (riqueza pública), bem como residências privadas e outros bens duráveis de consumo (riqueza pessoal).
A economia clássica ocasionalmente confundia a distinção entre riqueza e capital [3]. A economia neoclássica, por outro lado, sempre confunde os dois simplesmente definindo “capital” como riqueza que dura mais de um ano (Alchian e Allen 1969, 261). Isso engloba o capital empresarial e a riqueza pessoal e pública, bem como a “riqueza intangível” como conhecimento e habilidades (“capital humano”). Sua semelhança seria a durabilidade. Os contornos nacionais modernos incorporam a abordagem neoclássica: o capital é qualquer coisa que seja durável, e salários, dividendos e lucros são tratados de forma equivalente como renda (de modo que os circuitos de receita e capital são confundidos). Daí resulta a convenção contábil de que todos os fluxos fazem parte das contas de “renda” e todas as adições ao estoque fazem parte das contas de “capital” (veja o apêndice 4.1). A economia keynesiana adota mais ou menos o mesmo esquema.
[3]: Por exemplo, Ricardo (1951b, 23) fala dos meios de produção no estado rude e inicial de Smith como “capital”, que ele por sua vez identifica como “implementos duráveis”.
II. AS DUAS FONTES DE LUCRO AGREGADO
Nenhum capital individual está garantido a lucro. De fato, há sempre muitas perdas na constante batalha da competição. Dados do Censo dos EUA indicam que mais de 70% das novas empresas não existem uma década depois, a maioria tendo simplesmente falhado (Shane 2008). Mesmo em um ano bom como 2005, no qual o lucro agregado foi alto, mais de 41% das corporações dos EUA tiveram lucros negativos antes dos impostos (IRS 2008, 19, tabela 1). E em anos particularmente ruins como 1932–1933, o lucro agregado em si foi negativo (BEA 2009).
Os economistas clássicos estavam bem cientes de tais padrões. Eles entendiam que havia uma diferença entre empresas com lucros baixos porque não eram capazes de produzir uma quantidade suficiente de produto (um problema de produção) e empresas incapazes de vender o produto que haviam produzido (um problema de realização). Mas também reconheceram que as empresas geralmente são capazes de ajustar a produção para níveis desejados e adaptar a oferta à demanda do mercado. Portanto, os economistas clássicos geralmente começavam com a questão mais fundamental: O que determina a quantidade de lucro agregado em condições nas quais as empresas são capazes de vender as mercadorias que produziram coletivamente (ou seja, quando a oferta agregada é igual à demanda agregada)?
É aqui que encontramos a intrigante afirmação de Sir James Steuart de que existem, na verdade, duas fontes de lucro agregado.
O lucro positivo implica que não há perda para ninguém; resulta da ampliação do trabalho, da indústria ou da engenhosidade, e tem o efeito de aumentar ou ampliar o bem público . . . O lucro relativo é o que implica uma perda para alguém; marca uma vibração do equilíbrio de riqueza entre partes, mas não implica adição ao estoque geral . . . o composto é . . . aquele tipo de lucro . . . que é parcialmente relativo e parcialmente positivo . . . ambos os tipos podem coexistir inseparavelmente na mesma transação. (Sir James Steuart, citado em Marx 1963, 41)
Steuart identifica “lucro positivo” com um processo que adiciona ao “bem público” e “lucro relativo” com um que efetua uma “vibração” (transferência) do estoque existente de riqueza. Observe que a discussão é formulada em termos de agregados como o bem público e o estoque geral. Steuart também diz que o lucro agregado real é uma mistura dos dois tipos básicos. Sua noção de lucro positivo resultante de uma ampliação da riqueza é altamente sugestiva do argumento clássico subsequente de que o lucro agregado na produção, que é crucial para o desenvolvimento do capitalismo industrial (Meek 1967, 19), baseia-se na criação de um produto excedente agregado. Marx torna a explicação do lucro positivo central para sua própria análise, reservando a análise do que ele chama de “lucro na alienação” (lucro relativo) para uma etapa posterior. Abordaremos essa questão em breve. No entanto, por agora consideramos a questão levantada pela própria noção de lucro relativo: Como uma transferência de riqueza ou receita existente, na qual não há mudança no estoque ou fluxo geral e cada ganho é compensado por uma perda correspondente, pode dar origem ao lucro agregado (Shaikh 1987d)?
Considere o seguinte cenário possivelmente familiar. Você chega em casa depois do trabalho e descobre que sua valiosa TV de tela grande foi roubada. À luz fria da contabilidade, sua riqueza doméstica acabou de diminuir em $500. Enquanto isso, o ladrão vendeu sua TV para um comerciante, que a vende por $500 ao comprador final, paga $200 ao ladrão empreendedor e fica com $300 como seu lucro líquido. O lucro agregado agora aumentou em $300 através de uma “vibração” na riqueza. Observe que a riqueza doméstica agregada diminuiu exatamente em $300: você perdeu uma TV no valor de $500, o ladrão ganhou $200 em dinheiro e o comprador final da TV desembolsou $500 em dinheiro por um bem do mesmo valor. O ponto chave é que a perda de riqueza doméstica é registrada dentro do circuito de receita, enquanto o ganho de valor de capital é registrado dentro do circuito de capital. Eles se compensam mutuamente nas contas gerais, mas não nas contas de negócios onde o lucro está localizado. Uma mera “vibração” entre o circuito de receita e o circuito de capital aumentou o lucro agregado sem aumento no estoque geral (Shaikh e Tonak 1994, 35–37, 56, 220).
O lucro agregado não teria sido afetado se o ladrão tivesse decidido manter sua TV, pois a transferência seria interna ao setor doméstico. Seu ganho em riqueza pessoal compensaria sua perda na mesma categoria, e o assunto terminaria aí. Alternativamente, se uma TV no valor de $500 for roubada dos escritórios de uma empresa e depois revendida por outra empresa pelo mesmo valor, o lucro agregado também não mudará. A primeira empresa registrará a perda da TV (pela qual pagou $500) como um aumento em suas despesas de depreciação e exaustão, o que mudaria seus lucros líquidos em –$500. Por outro lado, a segunda empresa registrará um lucro líquido de $500 com a venda da TV. Portanto, essa transferência dentro do circuito de capital, de uma empresa para outra, não afeta o lucro agregado.
As transferências dentro do circuito de capital parecem ter uma lógica diferente. Suponha que o setor de produção pague 80 de seu excedente operacional aos bancos como juros. Então, o lucro de produção cairá em 80 enquanto (se abstrairmos dos custos bancários) o lucro bancário aumentará em 80: a magnitude agregada do lucro permanece inalterada, mas sua distribuição é alterada. Se permitirmos os custos bancários, a receita bancária será dividida em custos de 50 e lucro de 30. O princípio geral é o mesmo: o que é perdido no lucro de produção (80) através de uma transferência aparece novamente como custos bancários (50) e lucro bancário (30). A redistribuição do excedente alterou sua forma de puro lucro de produção para uma mistura de lucro agregado e custos, de modo que o primeiro é menor exatamente pelo valor absorvido nos custos bancários. Obviamente, o mesmo resultado pode ocorrer quando o excedente de produção é dividido em lucro e aluguel, com este último por sua vez dividido em custos e lucros de empresas de aluguel de terrenos ou edifícios. Impostos e transferências também podem absorver uma parte do excedente operacional. Embora não pareça haver mistério aqui, veremos na seção IV que até mesmo transferências dentro do circuito de capital podem aumentar ou diminuir o lucro agregado na medida em que as transações cruzam o limite entre contas de custos correntes e de capital.
Para transferências entre circuitos, considere o caso simples em que o setor de produção tem salários de 300 e lucros (excedente) de 400. Suponha que um novo banco abra na cidade e empreste algum dinheiro aos trabalhadores, que devolvem com um juros líquido de 18 (20 pagos em empréstimos menos 2 recebidos em depósitos). Este último é a receita bancária que, após a consideração dos custos bancários de 12, resulta em um novo lucro bancário de 6. O lucro de produção ainda é 400, mas agora o lucro agregado subiu para 406: a transferência do circuito de receita dos trabalhadores para o circuito de capital dos bancos aumentou o lucro agregado em 6. O mesmo resultado ocorreria se a parte do lucro distribuída como dividendos para os lares capitalistas fosse então redistribuída como juros líquidos de 18 pagos aos bancos. Como a divisão do lucro de produção de 400 em dividendos e lucros retidos é a jusante do lucro total de produção, este último permanece em 400, o lucro agregado sobe para 406, porque o novo lucro bancário de 6 surgiu exclusivamente da recirculação de receitas sem qualquer mudança no excedente.
O que Steuart chama de lucro relativo e positivo, Marx reformula como “lucro na alienação” e “lucro na produção de valor excedente”, respectivamente. A característica chave do lucro na alienação é que ele surge de transferências. Por outro lado, o lucro na produção é a forma geral do lucro industrial, “lucro na forma de lucro” sem considerar sua divisão adicional em aluguel e juros, o motor do capitalismo industrial. Segundo Marx, se o lucro relativo fosse a única fonte de lucro capitalista, então quando “todas as mercadorias são vendidas ao seu valor, nenhum lucro existiria” (Marx 1963, 42) [4]. O foco de Marx é no caso oposto: o lucro industrial positivo existe mesmo quando todas as mercadorias são vendidas ao seu valor (ou seja, quando há “troca de equivalentes” e o produto inteiro é realizado em troca). O objetivo era mostrar que nem transferências nem troca desigual são centrais para a geração de lucro industrial. Era óbvio que se parte do produto não fosse vendida, o lucro realizado cairia abaixo do lucro normal e poderia até se tornar negativo se as vendas caíssem abaixo dos custos. A questão era: O que determina o lucro normal? Todo o capítulo 5 do Volume 1 de O Capital é dedicado a essa questão crítica (Marx 1967a, cap. 5, 166 texto e n. 161). No entanto, Marx é cuidadoso em afirmar que o lucro relativo tem um papel importante em outros domínios. Em primeiro lugar, ele “continua a ser importante ao considerar a distribuição do valor excedente entre diferentes classes e entre diferentes categorias, como lucro, juros e aluguel” (Marx 1963, 42)—exatamente o ponto das minhas ilustrações precedentes. Em segundo lugar, ele desempenha um papel central nas “formas antediluvianas”, como o capital dos mercadores, que obtém seu lucro de “comprar para vender mais caro” e o capital dos agiotas, que obtém lucro emprestando mais dinheiro do que emprestou (Marx 1967a, 163). Como o dinheiro, o capital mercantil e o capital de agiotagem precedem o capitalismo industrial e são impulsionados pelo lucro na alienação (Meek 1975, 24). E, como o dinheiro, eles se perpetuam no capitalismo industrial. Veremos que o lucro na transferência também desempenha um papel central no lucro financeiro (seção V). Infelizmente, Marx não viveu para publicar mais nada sobre esses assuntos. Em particular, o material que temos sobre a distribuição do valor excedente no Volume 3 de O Capital foi montado por Engels muito depois da morte de Marx a partir de suas várias anotações e manuscritos inacabados. Pouco é dito nas obras publicadas de Marx sobre a teoria dos lucros do capital mercantil pré-industrial, exceto para enfatizar que é baseado no “lucro na alienação” derivado fundamentalmente da troca desigual [5]. A vasta literatura sobre a teoria do lucro de Marx parece não ter notado que o lucro na alienação deve desempenhar um papel central no “problema da transformação” de Marx, uma vez que este envolve transferências de valor excedente provocadas por preços que desviam dos valores de trabalho—troca desigual no sentido de Marx. Da mesma forma, muito pouca atenção foi dada ao fato de que a mesma questão surge quando consideramos preços que, por sua vez, desviam dos preços de produção, como no caso de preços de mercado ou de monopólio [6]: ali também, os lucros podem mudar sem mudança no produto excedente. Este é um “problema de transformação” inerente aos preços de produção em si, que os seguidores de Bortkiewicz e Sraffa não notaram. Voltaremos a essas questões ao longo deste capítulo, começando com a seção III.4. Mas primeiro, precisamos identificar os determinantes do lucro na produção.
[4]: Marx está certo ao dizer que é possível explicar o lucro agregado positivo mesmo quando os preços são iguais aos valores. Mas o que ele quer dizer por “valores” é o capital constante mais o tempo de trabalho vivo (c + l), o que é a mesma coisa que custos mais lucro proporcional ao tempo de trabalho excedente: (c + v) + s. Por outro lado, o “valor real” de uma mercadoria segundo Steuart depende da quantidade de trabalho realizado, do salário dos trabalhadores e dos custos de instrumentos e materiais (Marx 1963, 42). O produto dos dois primeiros elementos é o custo do trabalho, que adicionado ao terceiro dá os custos de produção. Assim, o “valor real” em Steuart refere-se ao custo de produção (c + v) (Akhtar 1979, 9–10). Portanto, Marx está errado ao dizer que a exigência de Steuart de que o preço deve ser superior ao “valor real” para que o lucro exista (p > c + v) é inconsistente com a afirmação de Marx de que o lucro positivo existe mesmo quando o preço é igual ao “valor” (p = c + v + s). Por outro lado, Marx está certo ao afirmar que Steuart não tem uma teoria de lucros positivos (Marx 1963, 41–42).
[5]: “Como o movimento do capital mercantil é M–C–M’, o lucro mercantil é gerado, primeiro, em atos que ocorrem apenas dentro do processo de circulação, portanto, nos dois atos de compra e venda; e, em segundo lugar, é realizado no último ato, a venda. Portanto, é um lucro sobre alienação. A princípio, um lucro comercial puro e independente parece impossível enquanto os produtos são vendidos pelo seu valor. Comprar barato para vender caro é a regra do comércio. Portanto, não é a troca de equivalentes” (Marx 1967c, ch. 20, 329, ênfase adicionada).
[6]: Uma exceção importante é Meek (1975, 286), que argumenta explicitamente que o “lucro sobre alienação” pode ser um meio de “manter e aumentar os lucros”, caso em que não é “razoável assumir que a única fonte de lucro é o trabalho excedente dos trabalhadores empregados pelo capitalista.” Dobb (1973, 84) é outra exceção porque ele aponta que mudanças meras nos preços relativos podem alterar a medida do produto agregado.
III. PRODUÇÃO, TEMPO DE TRABALHO E LUCRO
A Seção II do capítulo 4 deste livro enfatizou que a duração e a intensidade da jornada de trabalho são centrais para o processo produtivo: em um nível microeconômico, o tipo de tecnologia, o número de turnos por dia e a duração e intensidade de cada turno determinam a rentabilidade de qualquer planta específica. Tanto a evolução da tecnologia quanto seu funcionamento são socialmente determinados. A presente seção se preocupa com a segunda parte da questão de Steuart: O que determina o lucro agregado positivo?
O resultado central desta seção é que não pode haver lucro positivo sem tempo de trabalho excedente. No entanto, o lucro agregado pode mudar quando os preços relativos das mercadorias mudam, mesmo quando o produto excedente permanece o mesmo. Isso parece confundir a relação entre lucro econômico e tempo de trabalho excedente: o lucro ainda é um reflexo do trabalho excedente, mas agora o espelho da circulação parece estar curvado. Esta dependência parcial do lucro monetário em relação aos preços relativos é completamente geral. Ela se aplica às teorias neoclássica, sraffiana e marxista do preço: há um “problema de transformação” em cada escola de pensamento. Reconhecer isso é muito importante. Mas não é suficiente, pois ainda precisamos perguntar como e por que o lucro pode variar independentemente de quaisquer mudanças nas quantidades físicas. A resposta reside no fato de que mudanças nos preços relativos das mercadorias terão geralmente impactos diferentes nos circuitos de capital e receita, de modo que podem dar origem a transferências entre os dois circuitos, mesmo que o valor total em dinheiro circulado permaneça inalterado. No final, o lucro agregado é composto por componentes positivos e relativos — assim como Steuart afirmou.
O mistério dos efeitos dos preços relativos sobre os lucros agregados será abordado na próxima seção. Por enquanto, focarei na relação central entre lucros agregados e tempo de trabalho excedente, ilustrando cada ponto com um exemplo numérico de dois setores. O Apêndice 6.1 deriva formalmente todos os resultados para o caso geral multissetorial.
Deixando cn = milho, ir = ferro e N = o número de trabalhadores, a equação (6.1) descreve um exemplo numérico tomado de Sraffa, decompondo-o para tornar a dependência do tempo de trabalho explícita e ligeiramente alterada em termos da produção do setor de ferro, com o símbolo “+” utilizado aqui para significar “e.” [7] Os fluxos inicialmente representados são para uma jornada de trabalho de 4 horas, com um salário real composto por 4cn e 1ir. Duplicar a jornada de trabalho para 8 horas com um conjunto dado de trabalhadores dobra os insumos e a produção de cada setor sem alterar o emprego setorial ou o salário real. Como observado no capítulo 4, seção II.2, o mesmo efeito poderia ser alcançado dobrando a intensidade do trabalho. Os trabalhadores alugam sua capacidade de trabalhar, seu poder de trabalho, e cabe aos empregadores extrair o máximo de trabalho possível.
[7]: As ilustrações de Sraffa são em termos de trigo e ferro, que aqui foram transformadas em milho e ferro. Também alterei a produção do setor de ferro de 25 para 30 por conveniência expositiva. Seu primeiro exemplo não tem excedente e nenhuma representação explícita dos fluxos de trabalho porque os meios de consumo dos trabalhadores estão incorporados na categoria geral de “insumos.” Seu segundo exemplo introduz um excedente apenas no primeiro setor, aumentando simplesmente sua produção para o mesmo conjunto de insumos materiais e de trabalho. Isso faz parecer que um produto excedente se deve a um aumento puramente tecnológico na produtividade do trabalho. Se ele tivesse tornado explícita a duração da jornada de trabalho, então seria aparente que o aumento da produtividade do trabalho em seu segundo exemplo (que mantém o mesmo salário real) equivale a uma diminuição da parte necessária da jornada de trabalho, de modo que o tempo de trabalho excedente surge a partir de um determinado comprimento da jornada de trabalho (Sraffa 1960, 3–11). Isso então levantaria a questão de como e por que os trabalhadores continuam a trabalhar além do tempo necessário para produzir seus próprios meios de consumo coletivo. Esta é uma questão social, não tecnológica. Seu caráter social se torna imediatamente aparente quando os trabalhadores optam por fazer greve ou reduzir a produção.
A seguir, mapearei os fluxos em uma estrutura de insumo–produto na qual colunas representam indústrias e linhas representam os usos de um determinado produto. Um mapeamento formal entre os dois conjuntos é apresentado no apêndice 6.1.
1. Sem lucro agregado sem trabalho excedente
Quando a jornada de trabalho efetiva é de 4 horas e o salário real é um pacote de mercadorias composto por 4 lbs de milho e 4 lbs de ferro, podemos ver na tabela 6.1 que não haverá produto excedente: o uso agregado de milho e ferro como insumos materiais, conforme mostrado na área sombreada, é (250cn + 90cn) + (12ir + 3ir) = 340cn + 15ir, enquanto o produto total mostrado em negrito é 400cn + 30ir. Portanto, o produto líquido, o excesso da produção total sobre o insumo total, é 60cn + 15ir. Mas cada trabalhador recebe um salário real de 4cn + 1ir e, como há quinze trabalhadores no total, a folha de pagamento agregada é 60cn + 15ir, que é a mesma que o produto líquido. De fato, são necessárias 4 horas de tempo de trabalho de cada trabalhador para que a força de trabalho coletiva produza seus próprios meios de subsistência. Esse comprimento de tempo é o que Marx chama de tempo de trabalho necessário, o tempo pelo qual os trabalhadores devem trabalhar apenas para reproduzir seus meios de subsistência coletivos. É somente depois desse ponto que eles começam a realizar trabalho excedente positivo e, portanto, a produzir um produto excedente positivo. Essa conexão é revelada na prática sempre que os trabalhadores entram em redução de ritmo ou em greve. Como mostrado na tabela 6.1, sob a condição de uma jornada de trabalho de 4 horas, não há trabalho excedente ou produto excedente. Note que os insumos de milho, ferro e trabalho podem ser somados na última coluna porque cada um representa um item dado; mas não há entrada para a linha de saída, já que não podemos somar milho e ferro.
Deve ser óbvio que se o mesmo conjunto de preços for aplicado a insumos, saídas e ao pacote salarial, não pode haver lucro agregado no presente caso. O custo total é o valor monetário do pacote agregado de insumos e salários reais (340cn + 15ir) + (60cn + 15ir), as vendas totais são o valor monetário do pacote de saída (400cn + 30ir), e o lucro total é a diferença entre esses valores monetários. Em uma jornada de trabalho de 4 horas, os dois pacotes são iguais, portanto, não pode haver lucro agregado. Isso é perfeitamente consistente com lucros positivos em alguns setores sendo compensados por lucros negativos em outros. A Tabela 6.2 ilustra o caso para o preço do milho pcn = 0,7 e o preço do ferro pir = 5,25.
Tabela 6.1 - Produto Excedente Zero em uma Jornada de Trabalho de 4 Horas (Salário Diário wr = 4cn + 1ir)
3. Regra geral para a mensuração dos lucros econômicos reais
Os exercícios anteriores levam a uma regra simples para medir os lucros econômicos. Primeiro, derive os lucros econômicos nominais aplicando os mesmos preços do período atual aos insumos materiais e de trabalho, assim como aos produtos finais. Em seguida, obtenha os lucros econômicos reais deflacionando os lucros nominais pelo índice geral de preços, cujo nível dependerá do período escolhido como base. Nos exemplos anteriores, se os preços iniciais forem os preços de base, então o deflator para os lucros passados é 1 e para os lucros atuais é 2; inversamente, se os preços atuais forem os preços de base, então o lucro passado é deflacionado pela metade e o lucro atual por 1. Em ambos os casos, o lucro real agregado será o mesmo em ambos os períodos, embora seu nível particular dependa da base escolhida. Em nível analítico, ambas as regras podem ser combinadas usando os mesmos preços para insumos e produtos e mantendo o valor monetário agregado dos bens produzidos (a “soma dos preços”) constante nas comparações. Estes são exatamente os princípios contábeis incorporados nos modelos teóricos padrão de preços, e os seguiremos no que se segue. Como observado, esses ajustes são projetados para distinguir o lucro econômico real do lucro nominal. Eles não exigem que os preços permaneçam os mesmos ao longo do tempo ou em equilíbrio. Assim, para um dado conjunto de preços relativos em uma determinada tecnologia, o lucro real será uma função positiva do tempo de trabalho excedente. Esta é a essência da teoria clássica do lucro positivo (Dobb 1973, cap. 4, sec. 4; Morishima 1973; Shaikh 1984b, 59–62). No entanto, como veremos a seguir, isso não é o mesmo que dizer que os lucros agregados só podem mudar quando o tempo de trabalho excedente muda.
VIII. MEDIÇÃO DO LUCRO E DO CAPITAL
1. A medição empírica do lucro e do capital é tão complicada quanto a teoria correspondente, mas por razões diferentes. A discussão neste capítulo estabeleceu que o lucro econômico geral é a diferença entre o valor monetário do produto total e o custo corrente de materiais, depreciação e trabalho (seção III.3). Como estabelecido no apêndice 4.1 do capítulo 4, essa quantidade é conhecida nas contas nacionais como Excedente Operacional Líquido (EOL). Um corolário dessa contabilidade é que a medida correspondente do estoque de capital é o custo corrente do capital, não o seu custo histórico. A taxa econômica de lucro é então a razão entre o lucro econômico corrente e o custo corrente do capital adiantado. Calculada dessa maneira, é também uma taxa real de lucro porque calcular o numerador e o denominador em termos de preços correntes ajusta automaticamente para a inflação. Essa propriedade é preservada se desinflacionarmos tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo índice de preços; por exemplo, se desinflacionarmos o custo corrente do capital pelo índice de preços dos bens de capital para derivar o estoque real de capital, então devemos desinflacionar o lucro corrente pelo mesmo índice de preços para obter o lucro real expresso em termos de seu poder de compra sobre bens de capital (apêndice 6.2).
2. A construção do estoque de capital de plantas e equipamentos (inventários serão abordados em breve) apresenta novos desafios decorrentes das dificuldades e armadilhas do método de inventário perpétuo (PIM) através do qual os fluxos de investimento em equipamentos e estruturas são acumulados em estoques de capital [19] (apêndices 6.5.I–II). Precisamos considerar o significado e o impacto dos "ajustes de qualidade" nos índices de preços e quantidades e as importantes implicações para a medição da mudança técnica. É importante perceber que, desde que os ajustes de qualidade foram aplicados às medidas do estoque de capital, a razão ajustada pela qualidade entre a produção real e o capital real deixou de ser um índice da tendência da mudança tecnológica. Isso ocorre porque o propósito oficial dos ajustes de qualidade é fazer com que a quantidade de capital "real" seja proporcional ao lucro "real", sendo este último a qualidade essencial do capital. Na prática, o valor agregado real tende a substituir o lucro real, de modo que o ajuste de qualidade tende a tornar a razão produção real/estoque real estacionária. E como todas as revisões metodológicas são, naturalmente, retomadas até onde os dados permitem, as contas publicadas desde meados da década de 1980 apresentam tendências muito diferentes das publicadas posteriormente (apêndice 6.5.III–V). Interpretar essa mudança como representativa de um “novo estágio do capitalismo” seria um erro grosseiro. Isso nos leva aos aparentemente intratáveis problemas de agregação decorrentes do uso de índices encadeados. Medidas oficiais de estoque de capital são tipicamente calculadas em níveis muito detalhados e depois agregadas em subcategorias. A metodologia anterior utilizava índices de pesos fixos, caso em que os agregados seguem as mesmas regras do PIM que as medidas individuais. Então, poderia-se gerar medidas agregadas alternativas ao alterar uma das suposições subjacentes. Uma vez que a metodologia moderna é baseada em medidas com índices correntes cujos agregados resultantes não obedecem mais às regras do PIM, parece impossível criar medidas alternativas. Por exemplo, uma suposição crucial na metodologia oficial é que a taxa de depreciação de um determinado tipo de bem de capital é imune a eventos econômicos como ciclos de negócios, choques de petróleo e até mesmo Grandes Depressões (incluindo, claro, a atual “Grande Recessão”). No entanto, é bem conhecido que os ciclos econômicos afetam o descarte de plantas e equipamentos, e é até possível estimar o impacto de tais eventos na vida útil média do estoque agregado de capital. Mas, como todas as medidas modernas de estoque de capital dependem de índices ponderados correntes, não parece possível incorporar tais informações no cálculo de novas medidas agregadas. O nó górdio pode ser desfeito ao fazer uma pergunta diferente: mesmo que as medidas agregadas ponderadas correntes não sigam a regra do PIM, há alguma outra regra que elas seguem? Mostro que é possível derivar um novo conjunto de regras generalizadas do PIM que os estoques agregados de capital ponderados correntes seguem, que podem então ser utilizados para fornecer medidas corrigidas do estoque de capital e, portanto, da taxa de lucro (apêndice 6.5.V).
[19]: O Método de Inventário Perpétuo (PIM) é utilizado para construir medidas reais de estoque de capital (KR) a partir dos fluxos brutos de investimento disponíveis (IGR) e da depreciação real estimada (ZR, que é os retiros no cálculo dos estoques brutos e a depreciação no cálculo dos estoques líquidos) de acordo com a regra KRt = (IGRt – Zt) + KRt–1. Na metodologia antiga de pesos fixos, estoques de cada bem de capital individual e o estoque real agregado obedecem a essa regra, então novas medidas agregadas podem ser estimadas fazendo suposições diferentes sobre depreciação. Mas nas medidas ponderadas correntes, enquanto estoques de bens de capital individuais são gerados por essa regra, o agregado resultante pode se desviar muito dessa (Whelan 2000, 16). Veja o apêndice 6.5.V para mais detalhes.
3. A utilização da capacidade apresenta um conjunto adicional de desafios teóricos porque sabemos que a utilização real da capacidade geralmente oscilará em torno de um nível normal. Eu mostro que é possível gerar novas medidas de capacidade e, portanto, de utilização da capacidade, tratando a capacidade real como aquele componente da produção real que é gerado pelos movimentos do estoque de capital real e pela mudança técnica ao longo do tempo. Colocado dessa forma, a capacidade está co-integrada com o estoque de capital sujeito a uma tendência temporal que representa o caminho da razão capacidade-capital (apêndice 6.6). É de particular importância o fato de que a produção e o capital devem ser medidos nas mesmas unidades, de modo que a produção real e o capital real devem ser derivados pela deflação das respectivas medidas de preços correntes por algum índice de preços comum. O índice de preços do estoque de capital é o deflator apropriado no caso clássico porque, então, a produção real representa o poder de compra sobre bens de capital e a razão da produção real assim definida para o estoque real de capital representa a taxa máxima de lucro (apêndice 6.2.II). A estimativa derivada da capacidade permite-nos construir uma medida da utilização da capacidade (a razão entre produção real e capacidade real). A taxa de lucro pode então ser decomposta em dois componentes: um estrutural que representa a taxa normal de lucro obtida na utilização normal da capacidade; e um cíclico que resulta das flutuações da produção real em torno da capacidade produtiva (ou seja, da utilização real em torno do nível normal). É a taxa de lucro normal que é o foco das teorias da tendência de longo prazo da taxa de lucro a cair em Smith, Ricardo, Mill, Marx, Walras, Jevons, Clark, Keynes e Schumpeter, entre outros (Dobb 1973, 52, 72, 89, 157–158; Tsoulfidis 2010, 37–40, 118–120, 191, 252–256). O componente cíclico, por outro lado, é uma preocupação central nas teorias dos ciclos econômicos. Ao ajustar as flutuações devido à capacidade produtiva, conseguimos avaliar o efeito da mudança técnica na relação entre capacidade e produção (a taxa de lucro máxima normal em custo corrente). Por exemplo, a mudança técnica neutra em relação ao capital implica uma relação capacidade-capital estacionária, enquanto a mudança técnica tendenciosa ao capital implica uma relação em queda (Michl 2002, 278). Esta última é fortemente evidente nos dados pós-guerra dos EUA. Os determinantes teóricos da mudança técnica são abordados no capítulo 7, seção VII.
4. Medidas empíricas de lucro e capital vêm a seguir (apêndice 6.7). O primeiro passo para medir o lucro é distinguir dentro das Contas Nacionais de Renda e Produto (NIPA) entre o setor doméstico lucrativo e o governo, negócios sem fins lucrativos e um setor fictício chamado moradia ocupada pelo proprietário (OOH) no qual os proprietários são tratados como empresas alugando suas casas para si mesmos (apêndice 6.7.I.1). Em seguida, precisamos corrigir o fato de que nas NIPA toda a renda das empresas não incorporadas é tratada como parte de seu excedente operacional, em vez de ser dividida entre o equivalente salarial dos proprietários e parceiros e seu lucro efetivo (apêndice 6.7.I.2). Uma vez corrigido esse descuido, as taxas de lucro corporativo e não corporativo acabam sendo muito semelhantes (figura 6.1). Isso significa que podemos usar a taxa de lucro corporativo, que é mais simples de calcular, uma vez que não requer um equivalente salarial como proxy para a taxa geral de lucro.
5. O passo final no lado do lucro é corrigir a presença de encargos de juros imputados fictícios nas contas nacionais. Esta não é uma tarefa simples porque a estrutura dessas imputações é complexa. Nas contas clássicas, e de fato em algumas contas nacionais, os pagamentos líquidos de juros aos bancos são tratados como transferências da renda líquida das famílias e empresas. Mas as NIPA insistem em tratar os bancos como produtores de “serviços bancários,” então acabam adicionando várias quantidades imputadas de juros nas contas de famílias, empresas não financeiras e bancos. As imputações são construídas de forma a deixar as medidas de lucro das NIPA (que são líquidas de juros líquidos reais pagos) inalteradas, mas elas afetam as medidas de valor agregado e excedente operacional. Remover as quantidades imputadas faz com que o excedente operacional líquido volte a ser a soma dos juros monetários líquidos reais pagos e do lucro da NIPA, assim como nas contas clássicas e empresariais. Isso tem um impacto mínimo nas medidas de valor agregado das empresas (aumentando-as em cerca de 1%–2% em 2009) mas um impacto mais substancial nas medidas correspondentes de excedente operacional (aumentando-as em cerca de 10% em 2009). Tomada isoladamente, a correção dos juros imputados aumenta a participação da medida de excedente operacional líquido (NOS) no valor agregado sem afetar substancialmente a razão produção-capital. Este é o único efeito para o setor corporativo, mas no setor não corporativo o ajuste de equivalente salarial discutido anteriormente desloca o equivalente salarial estimado dos proprietários e parceiros para a folha de pagamento e reduz o excedente medido muito mais, de modo que o efeito combinado de ambas as correções é reduzir o excedente operacional total das empresas em cerca de 30% em 2009. Mais uma vez, o setor corporativo é um foco particularmente útil porque o único ajuste necessário para os juros imputados é facilmente feito (apêndice 6.7. IV e tabela do apêndice 6.7.11).
Figura 6.1 - Taxas de Lucro Corporativo e Não-Corporativo
6. No lado do capital, precisamos medir o estoque total (ou seja, a planta, equipamentos e estoques [FB: de bens e produtos que a empresa mantém]). Nas contas nacionais, os dados sobre esses elementos estão disponíveis apenas para empresas domésticas (ou seja, aquelas que operam dentro do país, sejam de propriedade nacional ou estrangeira). Por isso, as medidas correspondentes de VA, NOS e lucro nas seções anteriores focaram em empresas domésticas. Uma vez que quaisquer novas estimativas de estoque de capital indexado por cadeia devem ser feitas através da regra do Inventário Perpétuo Generalizado (GPIM), o primeiro passo é demonstrar que essa técnica de aproximação é 99,5% precisa na geração de proxies para agregados de estoque de capital existentes (apêndice 6.7.V.1). Com o GPIM em mãos, podemos avaliar os efeitos de diferentes pontos de partida iniciais (1925) e diferentes regras de depreciação e desativação sobre medidas alternativas de estoque de capital (apêndice 6.7.V.2–3). A regra GPIM também nos permite ajustar o estoque de capital corporativo para os efeitos da Grande Depressão nas taxas de desativação, efeito estimado através de dados do IRS sobre balanços patrimoniais corporativos. Corrigir apenas esse efeito faz com que o capital fixo a custo corrente comece 28% abaixo da medida oficial do BEA em 1947, mas acaba seguindo mais ou menos o mesmo caminho até 1977 (apêndice 6.7.V.4 e tabela do apêndice 6.8.II.4). Combinar o efeito da Grande Depressão com as medidas anteriormente derivadas de desativação e depreciação então resulta em estimativas finais dos estoques brutos e líquidos de capital fixo (planta e equipamentos). Em comparação com o estoque de capital fixo líquido oficial do BEA (KNCcorpbea), a nova medida de estoque líquido (KNCcorp) começa mais baixa em 1947, mas depois reduz a diferença porque cresce mais rápido. A nova medida de estoque bruto (KGCcorp) começa mais alta do que o estoque líquido oficial do BEA, mas também cresce mais rapidamente do que a medida oficial (apêndice 6.7.V.5).
7. O passo restante no lado do estoque de capital é estimar os inventários corporativos. As NIPA têm dados de setor sobre indústrias privadas (tabela NIPA 5.8.5), mas não por forma jurídica. O Federal Reserve Board (FRB) Flow of Funds tem dados a custo corrente sobre inventários corporativos e estoque de capital, mas apenas para corporações não financeiras [20]. No entanto, o IRS publica balanços patrimoniais corporativos a partir de 1926 e esses contêm dados sobre inventários, e de 1990 a 2011, há dados sobre o estoque de capital histórico líquido. Como os dados do IRS são baseados em amostras, não podemos aplicá-los diretamente ao setor corporativo das NIPA. Devemos, portanto, proceder em duas etapas: primeiro, estimar a razão entre inventários e capital fixo a custo histórico para todo o período de 1947 a 2011; em segundo lugar, escalar os níveis implícitos de inventário para os dos estoques de capital corrigidos no apêndice 6.7.V.5 multiplicando o inventário anterior pela razão entre o capital fixo histórico ajustado e o capital fixo a custo corrente. Como os inventários do IRS são uma mistura de avaliações a custo histórico (FIFO) e a custo corrente (LIFO), adicioná-los ao capital fixo a custo corrente, que é o objetivo, envolve algum grau de erro de avaliação. No entanto, como a rotatividade de inventários é bastante rápida em comparação com a do capital fixo, em comparação com este último, até mesmo os elementos FIFO mais antigos dos inventários são avaliados a preços relativamente recentes, de modo que o estoque agregado de inventário pode ser tratado como sendo bastante atual (apêndice 6.7.V.6).
[20]: Inventários não financeiros a custo corrente excluindo IVA, nome da série = FL105015205.A; capital fixo = equipamentos a custo corrente (FL105020015.A) + estruturas residenciais a custo corrente (FL105012665.A) + estruturas não residenciais a custo corrente (FL105013665.A).
8. O resultado final dessas peregrinações é uma medida expandida de lucro (excedente operacional líquido, ou seja, lucro NIPA mais juros monetários líquidos reais e transferências) e uma medida expandida de capital (capital fixo mais inventários). A medida expandida de lucro líquido é independente da forma como o total é distribuído entre empresas e seus credores, e corresponde à medida contábil empresarial chamada de receita operacional ou Lucro Antes dos Juros e Impostos (EBIT) (Brigham e Houston 1998, 76; Mead, Moulton e Petrick 2004, 3–4). É a medida de lucro apropriada tanto para as abordagens clássica quanto para a keynesiana, pois suas teorias de investimento se baseiam na diferença entre a taxa de lucro e a taxa de juros (capítulos 13 e 16), o que exige que o primeiro seja definido antes dos pagamentos reais de juros. Em contraste, os lucros NIPA são líquidos dos pagamentos reais de juros e transferências. Assim, as empresas com maiores pagamentos líquidos de juros parecerão menos lucrativas e sua rentabilidade parecerá estar em declínio se o componente de encargos de juros se tornar relativamente maior — como foi o caso a partir da década de 1970 (figura 6.2). Os lucros NIPA são semelhantes em espírito aos "lucros líquidos" das empresas, embora os dois possam diferir substancialmente no curto prazo porque o primeiro reflete conceitos de contabilidade econômica nacional, enquanto o segundo reflete conceitos de contabilidade financeira (Hodge 2011).
9. As equações (6.8)–(6.10) delineiam as relações contábeis básicas envolvidas nas medidas corporativas corrigidas. Seja VA = valor adicionado, NOS = excedente operacional líquido, P = lucro NIPA, NMINT = juros monetários líquidos pagos, EC = compensação dos empregados, KGC = capital fixo corrente bruto (estoque de planta e equipamentos), INV = inventários, KTC = KGC + INV = estoque total de capital, R = a taxa máxima de lucro, σP = a participação do lucro expandido (NOS) no valor adicionado, e r = a taxa média de lucro. Então, está claro que a participação do NOS no valor adicionado é o dual da participação correspondente da compensação dos empregados (equação (6.9)), enquanto a participação do lucro NIPA também depende do “peso” dos pagamentos líquidos de juros.
10. A Figura 6.2 exibe novas medidas de rentabilidade corporativa com o valor adicionado e o lucro ajustados para juros imputados e com os inventários incluídos no estoque de capital, juntamente com as medidas correspondentes da NIPA. No topo do gráfico, vemos que a taxa de lucro máxima corrigida (valor adicionado sobre o estoque total de capital) cai mais e de forma mais constante do que a medida da NIPA. Dado que a correção para juros imputados tem apenas um pequeno efeito sobre o valor adicionado (menos de 2%), e considerando que a razão entre inventários e o estoque de capital é bastante estável, essa diferença se deve principalmente às novas medidas de capital fixo bruto (apêndice 6.8.II.5). No meio do gráfico, vemos que a participação do lucro corporativo corrigido (NOS) é maior do que sua contraparte na NIPA porque o ajuste de juros imputados tem um impacto maior sobre o excedente operacional líquido (aumentando-o em cerca de 10%) do que sobre o valor adicionado. Também encontramos que a medida corrigida é muito mais estável, caindo modestamente na “era dourada” do trabalho até o início dos anos 1980, e depois subindo modestamente a partir de então devido ao início das políticas neoliberais. Por outro lado, como o lucro NIPA é líquido dos juros, a queda na participação do lucro NIPA pela metade de meados dos anos 1960 até o início dos anos 1980 deve-se em grande parte à maior participação do NOS absorvida pelos juros líquidos à medida que as taxas de juros aumentam dramaticamente de 3% para 14%, enquanto o aumento na participação do lucro NIPA após os anos 1980 deve-se à queda na participação dos juros líquidos no NOS, pois os crescentes encargos da dívida nesse período são mais do que compensados pela queda dramática na taxa de juros de 14% para perto de zero (capítulo 16, figura 16.6). Veremos no capítulo 16 que a participação dos salários também cai nesse último período, o que aumenta a participação do NOS (σP = profshcorp) um pouco e contribui ainda mais para elevar a participação do lucro NIPA (profshcorpnipa). Finalmente, tanto as taxas de lucro corrigidas quanto as da NIPA caem substancialmente de 1974 a 1982. A taxa corrigida se estabiliza a partir de então porque uma queda na participação dos salários eleva a participação do NOS (6.9), enquanto a taxa da NIPA sobe um pouco devido aos efeitos discutidos anteriormente da queda nas taxas de juros sobre a participação convencional no lucro.
Figura 6.2 - Medidas de Rentabilidade Corporativa Corrigidas para Juros Imputados e Inventários versus Medidas Convencionais da NIPA
11. As diferenças entre as medidas corrigidas e as convencionais giram em torno de três fatores: (1) a derivação de uma nova medida de capital fixo bruto (KGC); (2) a inclusão de juros líquidos pagos (NMINT) no lucro total; e (3) a inclusão de inventários (INV) no capital total. Seja rNIPA = P/KNCnipa a taxa de lucro da NIPA. Então, a taxa de lucro corrigida (r) está relacionada à taxa da NIPA por três variáveis x1, x2 e x3 que representam, respectivamente, as razões de juros monetários líquidos, inventário e estoque de capital.
Figura 6.3 - Razões Componentes que Explicam a Diferença entre as Taxas de Lucro Corrigidas e Convencionais
13. As medidas reais de rentabilidade exibidas na Figura 6.2 são um composto de flutuações de curto prazo e padrões estruturais de longo prazo obtidos com a utilização normal da capacidade. Assim, a Figura 6.4 exibe a nova medida de utilização da capacidade ao lado da medida do Federal Reserve Board (FB), esta última disponível apenas a partir de 1967 (apêndices 6.7.VI e 6.8.II.7). A ideia intuitiva por trás das novas medidas é que a capacidade econômica pode ser tratada como aquele aspecto da produção que é co-integrado com o estoque de capital ao longo do tempo, sujeito a uma tendência temporal desconhecida na razão capital-capacidade, cuja magnitude e direção são estimadas a partir dos dados. A nova medida mostra não apenas flutuações de curto prazo, mas também duas flutuações distintas de vinte e cinco anos.
14.A taxa de lucro pode ser decomposta em fatores estruturais e cíclicos. Seja Yn a produção líquida de capacidade normal, uK = Y / Yn = a taxa de utilização da capacidade, cujo nível normal é 1, Rn = (Yn / K) a razão capacidade-capital, que é a taxa máxima estrutural de lucro no sentido de Sraffa, e σPn = (P / Y)n = a participação no lucro normal (ou seja, seu componente estrutural). Com isso em mente, podemos escrever a taxa de lucro real e as taxas de lucro normais da seguinte forma:
15. A Figura 6.5 exibe as taxas máximas e médias corrigidas ajustadas pela nova medida de utilização da capacidade, juntamente com as medidas NIPA/BEA correspondentes ajustadas pela taxa de utilização da capacidade do FRB. A taxa normal máxima de lucro cai de forma constante, apoiando fortemente a noção de que a mudança técnica reduz continuamente a razão produção-capital: em termos neoclássicos, reduz a produtividade média do capital; em termos marxistas, aumenta o equivalente monetário da razão entre o capital constante e o trabalho vivo (Shaikh 1987a); e em termos sraffianos, reduz a taxa máxima de lucro (Sraffa 1960, 16–17). A participação normal no lucro, que é a versão suavizada da participação corrigida no lucro exibida anteriormente na figura 6.2, cai modestamente na chamada Idade de Ouro para o trabalho e, em seguida, compensa totalmente o terreno perdido na era neoliberal subsequente. A taxa média normal de lucro, que é o produto das duas medidas anteriores, cai um pouco mais rápido do que a taxa máxima normal até meados da década de 1980, após o que eventualmente se estabiliza à medida que a participação do salário é substancialmente reduzida diante dos ataques bem-sucedidos ao trabalho e às instituições associadas (capítulo 14, seção II; capítulo 16, seções II.2–3). Pode-se dizer que esse era o objetivo de tais ações, como veremos nos capítulos 14 e 16. As medidas NIPA convencionais se comportam de forma bastante diferente: como a taxa de utilização da capacidade do FRB só está disponível a partir de 1967, só podemos dizer que a máxima normal caiu de 1967 a 1982 e, em seguida, estabilizou-se. A participação normal no lucro da NIPA cai acentuadamente de meados da década de 1960 até o início da década de 1980 devido a uma combinação de aumento na participação dos salários e uma maior proporção do excedente operacional líquido absorvido pelos pagamentos de juros líquidos. Assim, a taxa de lucro ajustada pela capacidade da NIPA cai de 1967 a 1982 rapidamente devido aos efeitos combinados da queda da taxa máxima e da taxa de lucro convencional, apenas para recuperar-se acentuadamente na era subsequente. A Tabela 6.22 resume esses padrões para 1947–82 e a subsequente era neoliberal de 1982–2011. Lembre-se de que as medidas convencionais são construções baseadas em conceitos neoclássicos de estoque de capital e juros imputados (apêndice 6.7). Elas não correspondem ao que as empresas experienciam. Pelo contrário, as medidas corrigidas correspondem mais de perto às reais condições das empresas.
Figura 6.4 - Nova Taxa de Utilização da Capacidade Comparada com a Taxa do FRB
Figura 6.5 - Taxas de Lucro Corporativo com Capacidade Normal, Medidas Corrigidas versus Convencionais
Tabela 6.23 - Decomposição das Taxas Médias de Variação das Taxas de Lucro Corporativo dos EUA e Componentes
Figura 6.6 - Proxies para Taxas de Lucro Corporativo com Capacidade Normal
16. As diferenças finais entre as novas medidas de taxa de lucro e as convencionais podem ser divididas nas influências de dois conjuntos de variáveis: novas medidas de estoque de capital e de utilização da capacidade que afetam a tendência e a suavidade das taxas de lucro; e ajustes de juros imputados e inventários, cuja razão afeta as flutuações, mas não tanto a tendência (figura 6.3). O primeiro conjunto pode sempre ser construído mesmo no nível da indústria sempre que tivermos informações sobre estoque de capital e produção, o que geralmente é o caso para dados de indústria, agregados da OCDE e dados setoriais. O segundo conjunto é frequentemente indisponível em comparações internacionais (como o Banco de Dados Intersetorial da OCDE) e em contas setoriais por indústria (como o PIB por Indústria da BEA [21]). A Figura 6.6 mostra que o primeiro conjunto de variáveis é o mais importante: Rcorpn e rcorpn representam medidas corrigidas por ambos os conjuntos de variáveis, enquanto Rcorp'n e rcorp'n representam aquelas corrigidas apenas pelo primeiro conjunto. As medidas corrigidas e as proxies são bastante similares, o que indica que as correções de estoque de capital e de utilização da capacidade são cruciais para análises de longo prazo.
[21]: http://www.bea.gov/industry/index.htm#annual.
17. Algumas lições gerais podem ser extraídas. Para a análise das tendências nacionais nas taxas de lucro, devemos trabalhar com pelo menos medidas corrigidas de estoque de capital e de utilização da capacidade (capítulo 16). Para comparações interindustriais, essas medidas podem não ser tão importantes na medida em que todas as indústrias compartilham tendências nacionais comuns (capítulos 7 e 9). Isso deixa uma última questão: como esses fatores afetam a taxa sobre o novo capital (investimento), em vez de sobre o capital médio? Dado que a equalização das taxas de lucro entre indústrias é efetuada pela mobilidade interindustrial de capital, o que importa não é a taxa de lucro sobre o capital médio, que engloba tanto capitais obsoletos quanto de ponta, mas sim a taxa de retorno sobre os novos capitais.
18. Argumentarei no capítulo 7, seção VI.5, que a taxa de lucro sobre o novo capital pode ser bem aproximada pela taxa de retorno incremental sobre o investimento, definida como a razão entre a variação no excedente operacional líquido bruto e o investimento bruto atual em capital fixo e inventários [22]. O numerador pode ser calculado adicionando a variação na depreciação por custo corrente à variação no excedente operacional líquido ajustado por imputações calculado anteriormente, e o denominador pode ser calculado adicionando as variações estimadas nos inventários aos dados da BEA sobre investimento bruto em capital fixo. Mas surge uma questão adicional. Como mencionado anteriormente, se a taxa de lucro média é calculada em termos correntes (ou seja, como lucros a custo corrente ajustados para considerar o efeito dos preços correntes sobre a depreciação e os inventários divididos pelo estoque de capital a custo corrente), então é uma taxa real que já reflete os preços correntes (tabela 6.7 e apêndice 6.2). Da mesma forma, se pudéssemos medir diretamente o lucro corrente sobre os novos capitais e seu valor de capital corrente, então a sua razão, que é a taxa de lucro sobre os novos capitais, também seria uma taxa real. Mas a taxa de lucro incremental usada como proxy é diferente porque uma mudança no nível de preços correntes afetaria a mudança nominal no lucro bruto no numerador e o equivalente a custo corrente do investimento bruto no denominador. Portanto, para tornar a taxa de lucro incremental comparável à taxa de lucro média e à taxa de lucro (não observada) sobre o novo capital, devemos expressar seu elemento em termos correntes. Por isso, me referirei a ela como a taxa de lucro incremental corrente, com a compreensão de que é numericamente equivalente a uma taxa real convencional: converter todas as variáveis para preços do ano corrente dá o mesmo resultado numérico que convertê-las para preços do ano base porque os elementos correspondentes em dois cálculos diferem apenas por uma constante que se cancela em sua razão (capítulo 7, seção VI.5).
[22]: Como a taxa de lucro incremental é aproximada pela mudança nos lucros sobre investimentos passados, todas as variáveis devem ser colocadas em unidades de moeda corrente, o que exige que os fluxos do período passado sejam traduzidos em equivalentes do período corrente. Isso é o mesmo que traduzir todos os fluxos para equivalentes do período base (ou seja, em termos reais usando algum índice de preços comum) (capítulo 7, seção VI.5).
19. O cálculo da taxa de lucro incremental de forma a torná-la corrente é diferente da correção neoclássica da taxa de juros para torná-la real. Veremos no capítulo 10 que a equalização das taxas de lucro entre os setores real e financeiro implica que, para qualquer taxa de lucro dada (que por si mesma varia ao longo do tempo), a taxa monetária de juros será proporcional ao nível de preços. A correspondência real entre a taxa de juros monetária e o nível de preços tem sido tão bem documentada (capítulo 10, figura 10.6) que Keynes (1976, 2:198) foi levado a chamá-la de “um dos fatos empíricos mais completamente estabelecidos” na economia. Por outro lado, a economia neoclássica hipotetiza que a taxa de juros está atrelada à taxa esperada de mudança dos preços (taxa de inflação esperada) para qualquer taxa de lucro dada. Sob expectativas racionais, as taxas de inflação esperada e real são estocasticamente iguais, e sob a hipótese do mercado eficiente, a taxa de lucro esperada é constante ao longo do tempo, então acabamos com a hipótese clássica de que a taxa de juros (i) espelha a taxa real de inflação (π)—ou seja, a taxa real de juros (i—π) é constante (Shiller 2001, 260n224). As hipóteses clássica e neoclássica estão em desacordo.
Figura 6.7 - Taxas de Lucro Incremental Corrente Corporativas Corrigidas e Medidas Proxy NIPA (Numericamente, Taxas Correntes = Taxas Reais)
20. A Figura 6.7 faz duas comparações. O primeiro painel compara a taxa de lucro incremental corporativo nominal (iropcorp), calculada usando a razão da variação no GOS nominal corrigido para a soma do investimento bruto nominal em capital fixo e a variação nos estoques nominais, com a medida equivalente da NIPA (iropcorpnipa), calculada como a razão da variação no lucro bruto nominal da NIPA (variação na soma real do lucro líquido e depreciação a custo corrente) para o investimento bruto nominal em capital fixo. Este é um teste dos efeitos das correções no numerador e no denominador, e é de grande interesse descobrir que as duas medidas são praticamente iguais: a taxa de lucro incremental corrigida tem essencialmente a mesma média e um desvio padrão um pouco menor do que a medida mais simples da NIPA. O segundo gráfico compara a taxa de lucro incremental corporativo corrente (real) corrigida (iroprcorp), calculada da mesma forma que a taxa nominal, exceto com variáveis reais, com a taxa da NIPA (iroprcorpnipa), também usando variáveis reais (apêndice 6.8.II.7). Aqui, a medida corrigida tem uma média ligeiramente maior, mas um desvio padrão ligeiramente menor (tabela 6.23). Essas descobertas são bastante importantes porque as medidas da NIPA são facilmente estimadas entre países e ao longo do tempo. Veremos a seguir que as taxas nominais e correntes incrementais das corporações dos EUA da NIPA são muito semelhantes às taxas de retorno correspondentes das ações corporativas dos EUA—uma confirmação direta das expectativas clássicas sobre a equalização das taxas de lucro entre setores e uma validação da importância atribuída aos lucros corporativos pelos analistas de mercado de ações não acadêmicos (capítulo 10).
Tabela 6.24 - Taxas de Lucro Incremental Corrigidas e da NIPA, Nominais e a Custo Corrente
CAPÍTULO 11 - COMPETIÇÃO INTERNACIONAL E A TEORIA DAS TAXAS DE CÂMBIO
I. INTRODUÇÃO
Eu enfatizei que a teoria clássica da concorrência real é completamente diferente da teoria neoclássica da concorrência perfeita. Portanto, não deve ser uma surpresa que a teoria da concorrência internacional real (ou seja, a teoria do comércio internacional real) seja muito diferente da teoria ortodoxa do livre comércio.
1. Teoria do comércio é uma parte crítica dos debates sobre custos e benefícios da globalização
A teoria do comércio internacional é uma parte crítica dos debates modernos sobre os custos e benefícios da globalização da produção e das finanças. O mundo é assolado por pobreza generalizada e desigualdade persistente. O PIB anual per capita dos países mais ricos é superior a $30.000, enquanto o dos países mais pobres é inferior a $1.000. Mas mesmo essa soma é enganadora, porque a distribuição de renda nos países mais pobres é terrivelmente desigual. De acordo com estimativas do Banco Mundial, no início da crise global em 2008, quase metade da população mundial de 2,1 bilhões de pessoas vivia com menos de $2 por dia e 880 milhões com menos de $1 por dia (Banco Mundial 2008). Alguns países em desenvolvimento conseguiram avançar apesar desses obstáculos, mas muitos outros não, e ainda outros regrediram, particularmente diante da atual crise econômica global. A solução imposta ao mundo nas últimas três décadas por países desenvolvidos e instituições globais como a Organização Mundial do Comércio (OMC), o Banco Mundial (BM) e o Fundo Monetário Internacional (FMI) tem sido expandir o alcance do livre comércio (Agosin e Tussie 1993, 25; Rodrik 2001, 5, 10). Como colocado por Mike Moore, ex-Diretor Geral da OMC, "a maneira mais certa de fazer mais para ajudar os pobres é continuar a abrir mercados" (Agosin e Tussie, 9). Na prática, isso significou a redução das barreiras tarifárias e não tarifárias; a redução ou eliminação de subsídios; a adesão às regras da OMC sobre direitos de propriedade intelectual, procedimentos aduaneiros, normas sanitárias, tratamento de investidores estrangeiros; e a reforma das estruturas fiscais existentes e das regras do mercado de trabalho (Rodrik 2001, 24).
APÊNDICE 4.1 - Fluxos de Produção e Estoques nas Contas Nacionais
1. Uma Estrutura para Acompanhar Fluxos de Produção e Estoques
É útil começar com as categorias familiares das contas padrão de renda e produto nacional (NIPA). A produção total é definida como produção bruta (X), a soma dos insumos intermediários adquiridos (A), vendas de bens finais (XS) e variação de estoques (ΔINV). A variação dos estoques é a soma das variações nos estoques de materiais e suprimentos (ΔINVA), em processos de produção (ΔINVWIP) e de bens acabados e bens mantidos para revenda (ΔINVP). É importante notar que bens acabados incluem materiais, na medida em que representam o produto final dos produtores de materiais, enquanto bens finais referem-se a bens acabados que não retornam diretamente à produção (ou seja, consumo e investimento) (BEA 2008, 2–2, 2–9, 2–10) [2]. Para distinguir entre as duas categorias, indicarei os bens acabados (ou seja, produzidos) pelo subscrito “P” e os bens finais pelo subscrito “F”. Assim, dentro da medida de produção bruta, a soma dos dois primeiros itens, insumos intermediários adquiridos (vendidos) e vendas de bens finais, representa o total de vendas de bens acabados. Por fim, o valor adicionado bruto (GVA) e o produto interno bruto (PIB) são definidos como produção bruta menos insumos intermediários. Como a produção bruta pode sempre ser expressa no lado das fontes como a soma de seus custos com materiais (A), seus custos com salários (W) e lucro bruto, o GVA é a soma dos custos com salários e do lucro bruto. No lado dos usos, a produção bruta é a soma das vendas (compras) de materiais (A), vendas finais para consumo (C) e bens de investimento fixo (If), e das variações de estoques. Assim, o produto interno bruto (PIB) é a soma do consumo, investimento fixo e da variação total dos estoques de materiais, produtos em processo e bens finais. Devido ao seu foco na produção iniciada, a medida NIPA de produto “final” tem a curiosa propriedade de englobar adições aos estoques de matérias-primas e itens parcialmente fabricados (Shapiro 1966, 26n11).
[2]: Vendas finais são “vendas da indústria para usuários finais” e equivalem à soma das despesas de consumo pessoal, investimento fixo privado bruto, despesas de consumo do governo e investimento bruto, e exportações líquidas de bens e serviços (BEA 2008, 2–10, 12–12).
Para fazer a transição para as categorias clássicas, precisamos extrair categorias relevantes para os bens acabados (ou seja, produzidos). Observamos no início deste apêndice que as vendas de bens acabados são a soma dos insumos intermediários adquiridos (A) e das vendas de bens finais (FS). Como a produção concluída adiciona-se aos estoques de bens acabados e as vendas de bens acabados subtraem-se desses estoques, a variação desses estoques (ΔINVP) é a diferença entre a produção total de bens acabados (XP) e as vendas totais de bens acabados (A + FS). Esta relação pode ser expressa como
As equações (1.1), (1.2) e (1.6) nos indicam que a medida padrão de produção iniciada é maior que a medida clássica de produto acabado pela soma das variações nos estoques de materiais e de produtos em processo.
Uma comparação semelhante pode ser feita entre os custos de materiais e trabalho da produção total (A + W) e os custos correspondentes do produto acabado. O custo de materiais dos bens acabados (AP) é o custo de materiais dos bens acabados cuja produção foi iniciada no ano atual (A'P) mais o custo dos insumos dos bens acabados cuja produção foi iniciada em anos anteriores (A''P) [3]. Da mesma forma, o custo de trabalho dos bens acabados (WP) é o custo de trabalho dos bens acabados iniciados no ano atual (W'P) mais o custo de trabalho dos bens acabados iniciados em anos anteriores (W''P). Também é útil notar que a folha de pagamento total do ano atual (W) é a soma dos salários gastos na produção iniciada no ano, tanto dos bens acabados (W'P) quanto dos bens inacabados (WWIP).
[3]: Se os preços estão mudando, os custos atuais dos insumos não serão os mesmos que os custos efetivamente pagos, o que normalmente é ajustado através de ajustes de avaliação de estoques (BEA 2008, 2-8n19).
AP = Custo de Materiais dos Bens Acabados Concluídos Neste Ano
= Custo de Materiais dos Bens Acabados Iniciados Neste Ano + Custo de Materiais dos Bens Acabados Iniciados em Anos Anteriores
WP = Custo de Mão de Obra dos Bens Acabados Concluídos Neste Ano
= Custo de Mão de Obra dos Bens Acabados Iniciados Neste Ano + Custo de Mão de Obra dos Bens Acabados Iniciados em Anos Anteriores
APÊNDICE 6.1 - Álgebra do Lucro e do Trabalho Excedente
I. Caso de uma Única Mercadoria Composta (Milho-Milho)
II. Mapeamento na Forma de Insumo-Produto
III. Caso Multissetorial
APÊNDICE 6.2 - A Taxa de Lucro como uma Taxa Real
A teoria do capital é uma das áreas mais difíceis e controversas da teoria econômica. De Karl Marx às controvérsias de Cambridge, há um desacordo contínuo entre os economistas sobre o que é capital e como ele deve ser mensurado. (Hulten 1990, 119)
I. Conceitos de Capital
Foi observado no capítulo 6, seção I, que o conceito de capital varia consideravelmente entre as tradições econômicas. Na tradição clássica, capital consiste naquilo que é usado para gerar lucro. O Apêndice 4.1 estabeleceu que os gastos com mão de obra e matérias-primas aparecem nas contas nacionais como mudanças nos estoques de capital circulante (matérias-primas e trabalho em andamento), e os gastos com instalações e equipamentos aparecem como mudanças no estoque de capital fixo.
A riqueza pessoal ou pública é diferente de capital. Um mecânico autônomo pode utilizar ferramentas para ganhar a vida, usar sua renda para adquirir e mobiliar uma casa, e pagar seus estudos universitários para aprimorar suas habilidades. Suas ferramentas e mobília fazem parte de sua riqueza, e sua educação faz parte de suas habilidades, das quais sua renda pode derivar. Nenhuma dessas coisas é capital. Mas se ela trabalha como funcionária em uma oficina de reparos, ela trabalha para gerar lucro para seu chefe. Nesse caso, seus salários (que podem depender de suas habilidades) e as ferramentas e máquinas com as quais ela trabalha fazem parte do capital dele.
Dentro da categoria de capital, a distinção entre capital circulante e fixo depende da relação de um item específico com o ciclo de produção no qual ele opera, não da duração de sua vida econômica em relação a algum período temporal arbitrário, como um ano. Assim, um molde de argila é capital circulante se for consumido no processo de produção, enquanto moldes de plástico e aço são capital fixo se puderem ser usados em mais de um ciclo de produção. No entanto, um molde de plástico pode não durar mais do que (digamos) seis meses de ciclos de produção, enquanto um molde de aço pode durar vários anos. Se tomássemos um mês como período de referência, ambos seriam classificados como bens duráveis; se tomássemos um ano, o primeiro seria reclassificado como perecível; e com uma década como período de referência, ambos seriam classificados como perecíveis. Nada disso mudaria o fato de que os moldes de argila continuam sendo capital circulante, e os moldes de plástico e aço continuam sendo capital fixo ao longo do tempo. A distinção é funcional, não temporal (Shaikh e Tonak 1994, 13–17).
Em uma economia capitalista, o capital inclui ativos empresariais, como dinheiro, estoques, instalações e equipamentos. A riqueza, por outro lado, também inclui terras, recursos nacionais e edifícios e equipamentos governamentais (riqueza pública), bem como residências privadas e outros bens de consumo duráveis (riqueza privada). A economia neoclássica confunde a distinção entre riqueza e capital porque simplesmente define “capital” como riqueza que dura mais de um ano. Isso abrange o capital empresarial e a riqueza pessoal e pública, bem como a "riqueza intangível", como conhecimento e habilidades (“capital humano”). As contas nacionais modernas incorporam essa abordagem neoclássica: capital é qualquer coisa que seja durável, e salários, dividendos e lucros são tratados como categorias equivalentes de renda (de modo que os circuitos de receita e capital são confundidos). Daí decorre a convenção contábil de que todos os fluxos fazem parte das contas de "renda" e todos os acréscimos ao estoque fazem parte das contas de "capital" (ver apêndice 4.1). A economia keynesiana permanece dentro desse quadro convencional.
O tratamento de Sraffa sobre preços e taxas de lucro, no qual me baseio amplamente, foca inteiramente no circuito de capital, de modo que a necessidade de distinguir entre riqueza e capital não surge. Ele também apresenta um meio muito sofisticado de calcular as depreciações, o que é uma questão importante na mensuração do estoque de capital. Mas ao fazer isso, ele incorpora três noções convencionais da economia ortodoxa: a definição de capital fixo por sua durabilidade [1]; a definição "física" de capital, na qual apenas mercadorias, e não dinheiro, aparecem como capital; e uma definição correspondente de capital como estoque líquido, em vez de bruto, o que define a maneira particular como ele trata o capital fixo como um produto conjunto. Já argumentei contra os dois primeiros pontos. Defendo, no apêndice 6.3, que o estoque bruto é a medida clássica apropriada de capital, e mostro que isso simplifica consideravelmente o tratamento do capital fixo como um produto conjunto. Mas primeiro, focamos em uma grande virtude do tratamento de Sraffa sobre preços e lucros, que é o fato de que a relação entre os lucros atuais e o custo atual do capital define uma taxa de lucro real.
[1]: Sraffa (1960, 63) ilustra a natureza dos preços de produção com um exemplo de insumos físicos apenas e define o capital fixo como "instrumentos duráveis de produção."
II. A Taxa de Lucro a Preços Correntes como uma Taxa de Lucro Real
A taxa de lucro clássica pode ser definida por meio de um sistema de preços de produção [2]. A seguir, matrizes e vetores são delineados em negrito.
p = p · a + p · κ · d + p · w · l + r · p · κ (6.2.1)
APÊNDICE 6.3 - Estoques Brutos e Líquidos de Capital
APÊNDICE 6.4 - Marx e Sraffa sobre Capital Fixo como um Produto Conjunto
APÊNDICE 6.5 - Medição do Estoque de Capital
I. Pontos Fortes e Fracos do Método de Inventário Perpétuo
II. Melhorias nas Suposições do Método de Inventário Perpétuo
III. Impacto do Ajuste de Qualidade nas Medidas de Estoque de Capital
1. Índices de preços observados versus ajustados pela qualidade
2. Ajuste de qualidade para índices de preços
IV. Avaliando o Efeito da Mudança Técnica na Taxa de Lucro
V. Superando o Problema dos Agregados Encadeados
1. Regras de acumulação estoque-fluxo para estoques de capital individuais
2. Regras de acumulação estoque-fluxo para estoques agregados de peso fixo
3. Novas regras do método de inventário perpétuo para estoques agregados encadeados
É evidente, pela combinação das equações (6.5.1) e (6.5.2), que o valor real do estoque de capital é simplesmente sua quantidade multiplicada pelo preço do ano-base. Assim, o método de preço do período base e o método do índice de preços fornecem a mesma medida de estoque real:














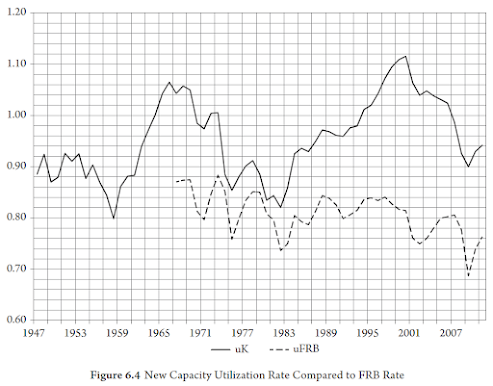




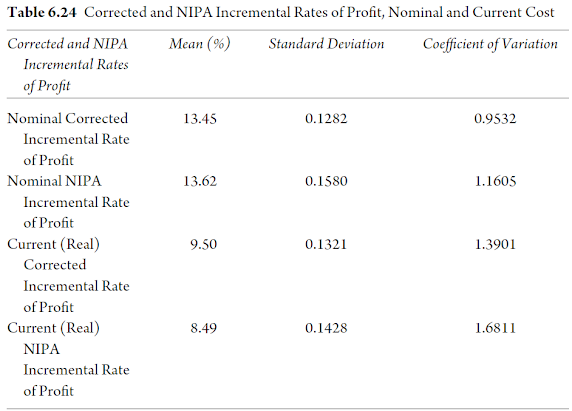






Nenhum comentário:
Postar um comentário